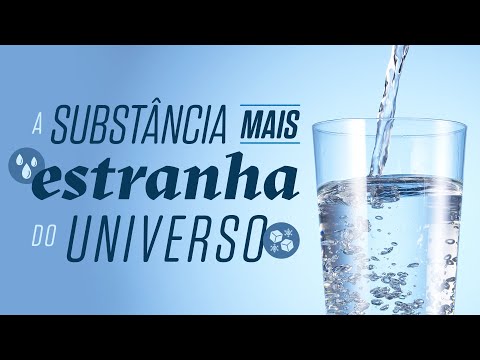Os últimos povos isolados: como vivem os humanos não contatados
O Brasil abriga a maior quantidade de pessoas não contatadas do mundo. São mais de cem grupos indígenas que não mantêm laços com o resto do país. Entenda como a Funai monitora discretamente essas populações – e por que é necessário protegê-las do contato com gente e doenças de fora.

O povo Zo’é vivia bem até a chegada dos missionários. Os pregadores começaram a aproximação deixando presentes, como ferramentas, e fazendo contato com alguns indígenas para introduzir a fé cristã. Gradualmente, os dois grupos passaram a conviver.
Os Zo’é ficaram doentes em pouco tempo. Eles não tinham memória imunológica para combater os vírus e bactérias trazidos pelos missionários – algo que se obtém pela exposição anterior ao patógeno ou pela vacinação. Um quarto da população morreu de doenças triviais, como a gripe comum.
A história acima poderia ter ocorrido no século 16, durante a chegada dos portugueses ao território que hoje é o Brasil. Mas tudo aconteceu há apenas 40 anos. Entre 1982 e 1987, os missionários evangélicos da Missão Novas Tribos se aproximaram dos indígenas que viviam isolados nas florestas do norte do Pará. Morreu tanta gente que os próprios missionários entraram em contato com a Funai para obter ajuda.
Desde a expulsão dos missionários, em 1991, o povo Zo’é sobrevive na Amazônia. Hoje eles são classificados como “povo de recente contato”. Apesar do nome, a classificação não tem a ver com a época em que foram contatados pelo Estado, e sim com a maneira que se relacionam com o resto do mundo. Embora tenham alguma comunicação com pessoas de fora do grupo, eles mantêm suas formas tradicionais de organização social.
Também há aqueles que não querem contato algum com não indígenas. Esses são chamados de “povos isolados” – como eram os Zo’é antes dos missionários. São pessoas que mantêm seu modo de vida tradicional, e sobre as quais temos informações limitadas. Eles se concentram principalmente na América do Sul e na Oceania.
O povo isolado mais conhecido mundialmente talvez seja o que vive em Sentinela do Norte, uma ilha a sudeste da Índia. Os sentineleses ficaram famosos pela hostilidade com pessoas que tentam se aproximar da ilha, muitas vezes recebidas a flechadas. Desde os anos 1960, é proibido visitar o local – tanto para a proteção dos visitantes quanto dos nativos.
A maior parte dos povos isolados do mundo, porém, vive no Brasil. Segundo a Funai, existem 114 registros de povos isolados na Amazônia, sendo 29 confirmados, 25 em estudo e 60 com “informações em qualificação”. Esta última categoria se aplica, por exemplo, a povos que foram vistos uma ou outra vez pela comunidade de cidades próximas ao seu território.

“Eles têm consciência que existe uma sociedade ao redor deles. Eles conseguem ouvir, conseguem ver aviões passando no céu”, diz Priscilla Oliveira, antropóloga e pesquisadora da ONG Survival International. “Eles sabem que existem outras pessoas. E eles optam por continuar isolados.”
Não é por falta de informação. Muitos desses povos já tiveram algum contato com pessoas não indígenas no passado – e é justamente o trauma desse encontro que motiva o isolamento.
DIREITO DE RESPOSTA DA MISSÃO NOVAS TRIBOS DO BRASIL
A Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), iniciou suas atividades no Brasil em 1953, com o objetivo de exercer o amor ao próximo através de ações humanitárias voltadas aos povos indígenas. Atuando em áreas como saúde, educação e apoio às necessidades identificadas pelas próprias comunidades, sempre em respeito à sua cultura e autonomia, a MNTB consolidou-se como uma instituição comprometida com o bem-estar dos povos originários.
A reportagem em questão, no entanto, ignora a trajetória da MNTB, apresentando acusações inverídicas e informações distorcidas, sem qualquer comprovação fática ou documental. Ao atribuir à Missão responsabilidade por eventos relacionados ao povo Zo’é, a matéria fere gravemente a imagem e a reputação institucional da MNTB, desconsiderando as provas oficiais produzidas à época.
Esta entidade foi objeto de investigação formal conduzida pela Polícia Federal no IPL 085/1998-DPF.B/SNM/PA, e, também, de análise pelo Ministério Público Federal no Processo nº 2000.39.02.001859-0. Sendo que, ao final do inquérito, a Polícia Federal asseverou que “não encontrou provas suficientes para que pudesse concluir que a presença da MNTB na região teria ocasionado a morte da população Zo’é, ou seja, não existe comprovação da relação de causalidade entre a ação da MNTB e o resultado morte dos índios Zo’é.” (sic.).
Neste mesmo sentido reconheceu o MPF que: “Esta autoridade não encontrou provas suficientes para que pudesse concluir que a presença da MNTB na região teria ocasionado a morte da população Zo’é, ou seja, não existe comprovação da relação de causalidade entre a ação da MNTB e o resultado morte dos índios Zo’é.” (IPL 085/1998-DPF.B/SNM/PA) (sic.). Consequência lógica, o inquérito e o processo em comento foram arquivados.
Dessa forma, é uma falácia a imputação à MNTB das mortes ocorridas entre o povo Zo’é, inclusive de que seu bom modo de vida cessou com “a chegada dos missionários”. É também caluniosa e gravíssima a fala da reportagem de que a Missão “dizimou” os Zo’é em 1980. À época da convivência da instituição com os Zo’é, os próprios servidores de saúde da FUNAI, Dr. Lauro Lino Moreira Faro e Dr. Marcos Guimarães, relataram que os indígenas estavam em regular estado de saúde, reconhecendo a qualidade do trabalho realizado pela MNTB. Ainda, em 1998, a Fundação Nacional de Saúde concluiu pelas boas condições físicas e mentais do povo Zo’é.
Todavia, a reportagem afirma que “Morreu tanta gente que os próprios missionários entraram em contato com a Funai para obter ajuda.”, o que jamais ocorreu. A atuação da MNTB, inclusive na prestação de assistência à saúde dos indígenas, se iniciou com o conhecimento, anuência e cooperação da FUNAI, e, conforme amplamente documentado, não é possível comprovar a causa das mortes entre os Zo’é. Isto porque o levantamento destas informações foi feito com base no processo de rememoração do próprio povo sobre o falecimento de seus antepassados, método de carece de cientificidade, inclusive, sendo seus resultados contestados em laudo antropológico elaborado pelo cientista Carlos Antônio de Siqueira à época.
Além da MNTB, estiveram em contato com os indígenas os funcionários da FUNAI, repórteres estrangeiros, turistas. Houve, ainda, contato prévio dos Zo’é com castanheiros e caçadores, e as áreas de perambulação dos indígenas também era via de tráfego para balateiros, garimpeiros e castanheiros. Assim, atribuir à MNTB a culpa pela morte dos Zo’é é incorrer no cometimento do crime de difamação.
Contrariamente ao exposto na reportagem, que distorce a realidade acusando a instituição de causar a “morte de um quarto da população” Zo’é, o contexto de atuação da Missão foi baseado em princípios de solidariedade. Graças à atuação da MNTB, vidas foram salvas e tratamentos aplicados ao povo Zo’é, fazendo com que os censos demográficos de sua população registrassem um aumento populacional de 119 pessoas no primeiro censo para 136 nos quatro anos de permanência da MNTB entre eles.
A MNTB lamenta que a Revista Superinteressante, veículo de reconhecida trajetória, tenha reproduzido reportagem que apresenta uma versão unilateral, falaciosa e tendenciosa dos fatos, ignorando robusto acervo documental que não imputa à Missão as mortes ocorridas entre os Zo’é. Tal abordagem não apenas prejudica a reputação de uma instituição com décadas de trabalho humanitário, mas também desinforma o público sobre um episódio complexo da história indigenista brasileira, prestando-lhe um desserviço.
Primeiro (e último) contato
Geralmente definimos o “primeiro contato” como aquele que ocorreu com os europeus. É evidente que povos indígenas sempre interagiram, guerrearam e fizeram comércio entre si. Mas foi só com a colonização europeia, no século 16, que estrangeiros se tornaram um problema para valer: armas de fogo, massacres, escravidão e a chegada de doenças contra as quais os nativos não tinham imunidade. O básico das aulas de história.
Essa dinâmica não ficou restrita aos anos 1500. Nas décadas de 1930 e 1940, o governo de Getúlio Vargas promoveu uma política de ocupação do Norte e do Centro-Oeste que pretendia “modernizar” o interior do País, expandindo a fronteira agrícola e a malha rodoviária. A marcha para o oeste brasileira catalisou conflitos com diversos povos indígenas isolados.
Por exemplo: o povo Piripkura, que vive no Mato Grosso, sofreu sucessivos ataques de madeireiros e fazendeiros da década de 1960 em diante – incluindo sequestros e decapitações. Hoje, restam três sobreviventes da etnia: uma indígena contatada e dois indígenas isolados. Eles guardam memórias do genocídio, e não querem pensar na ideia de viver na aldeia ou na cidade.
Oficialmente, esses povos são considerados “isolados voluntários”. Mas especialistas acreditam que esse termo pode mascarar a história violenta que motivou o isolamento. “Os antepassados desses povos tiveram contato com pessoas de fora e foram massacrados, então eles vão evitar esse contato”, diz Oliveira. “Quando você vê sua família correndo risco, não resta muita opção a não ser se isolar.”
Antes da Funai, o órgão que mediava esses contatos era o Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Ele enviava grupos de exploradores para “integrar” e “pacificar” os indígenas. Em resumo, a política de Estado dessa época era buscar contato com povos isolados.
A SPI fechou em 1967, após denúncias de corrupção, violência e genocídio. O órgão foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, a Funai – que, embora tivesse uma ideologia menos colonizadora, ainda ia atrás de etnias isoladas. Isso era feito por profissionais chamados sertanistas, que adentravam a mata e procuravam fazer o encontro de forma pacífica.
“Alguns sertanistas começaram a perceber que, a partir do momento em que faziam contato com os indígenas, eles só levavam tragédia”, diz Oliveira. “Nessa época era comum que metade do povo morresse no primeiro ano de contato, mesmo levando médicos e remédios. Não adiantava.”
O principal sertanista responsável por mudar a política da Funai foi Sydney Possuelo, que esteve à frente do contato com sete povos indígenas isolados. Ele relata que, em todos os casos, o resultado era o mesmo: perda de idioma, cultura, território, autonomia e, principalmente, o aumento de doenças e mortes.
Diante disso, a Funai adotou uma política de não contato com povos isolados a partir de 1987. Possuelo esteve por trás da criação do que hoje é a Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC), responsável pela proteção desses povos. O órgão atua por meio de 11 Frentes de Proteção Etnoambiental (FPE), que cobrem diferentes regiões da Amazônia.

Possuelo foi presidente da Funai entre 1991 e 1993. Nesse período, foram demarcadas 166 terras indígenas, inclusive a terra Yanomami e as do Vale do Javari. Nas palavras dele, “a glória de um sertanista deve ser a de defender um povo que ele nunca vai ver”. A questão é: como proteger pessoas que não querem ser encontradas?
Arqueologia do presente
Proteger indígenas já contatados envolve dialogar com o povo para entender suas necessidades. Mas o que fazer quando essas pessoas não podem ser abordadas? Esse é o desafio das FPEs. Lá trabalham indigenistas e sertanistas encarregados de proteger povos isolados e seus territórios.
Para isso, o primeiro passo é entendê-los: é preciso saber onde estão essas comunidades, quantas pessoas vivem em cada uma, como elas se movem, se alimentam e que idioma falam.
Não é apenas curiosidade antropológica. Vamos pensar num exemplo: um povo hipotético que é caçador-coletor e, sazonalmente, faz longas migrações dentro da floresta em busca de um novo local para viver. Se os sertanistas identificarem que esses indígenas estão indo para o leste, eles podem se antecipar e construir uma base avançada a leste para reforçar a proteção desses povos – que podem estar caminhando na direção de garimpeiros, por exemplo.
As comunidades são monitoradas periodicamente por sobrevoos baixos, que permitem estimar o tamanho da população isolada. Também é possível reunir pistas sobre seu modo de vida – por exemplo, identificando se as moradias ou roças são semelhantes às de outro grupo já conhecido. Outros países da América do Sul, como Peru e Colômbia, também fazem esse tipo de monitoramento. Mas ele não é suficiente.
A maior parte das pistas está em detalhes no chão. Por isso, as FPEs também fazem expedições de campo. Se arqueólogos conseguem descobrir detalhes da vida de humanos que viveram há milhares de anos, por que não daria para fazer o mesmo com povos vivos hoje?
Os mateiros (que podem ser sertanistas da Funai ou pessoas nativas da floresta) são capazes de encontrar trilhas na mata e identificar se foram feitas por animais ou humanos, além de estimar há quanto tempo elas estão ali. Em outras palavras, sabem enxergar marcas de antropização – ou seja, matas que não são “virgens”, e sim moldadas por humanos.
É um trabalho minucioso, digno de detetive, que o sertanista Daniel Cangussu chama de arqueologia do presente. Cangussu coordena a FPE Madeira-Purus, que abrange uma região do sul do Amazonas e norte de Rondônia. Nos 15 anos desde que começou a trabalhar como auxiliar em indigenismo, ele aprendeu com outros mateiros (muitas vezes, os próprios indígenas) a entender a floresta.
Depois de anos seguindo os rastros do povo Hi-Merimã, hoje Cangussu consegue perceber mudanças sutis que indicam quando há uma grávida, crianças ou alguém com mobilidade reduzida no grupo.

Embora seja possível saber quantas pessoas há em algumas populações (como é o caso do povo Piripkura, que só tem dois integrantes isolados), esse dado nem sempre é fácil de estimar. Além disso, a Funai não divulga suas estimativas sobre o número de membros de cada povo isolado, pois isso pode deixá-los vulneráveis a ataques físicos ou políticos.
Não há um único curso que ensine todas as habilidades necessárias para esse trabalho. Além da arqueologia, a caixa de ferramentas desse pessoal conta com conhecimentos da paleontologia, da botânica, das tradições indígenas e da antropologia.
É um amontoado metodológico que se aprende na prática, já que ele depende das características de cada território. Cangussu, que é biólogo, resolveu sistematizar suas experiências em um mestrado e um livro, em que explica como decifrar alguns vestígios comuns da região em que trabalha.
Uma ponte mais reforçada ou pegadas com marca de um cajado sugerem a presença de alguém mais velho no grupo. Posicionar uma rede em uma estaca forte, que aguenta mais peso, indica que uma mulher está grávida. Se depois aparecerem estacas para uma rede pequenininha, significa que o bebê nasceu.
“As crianças que eu monitorei em 2010 são adultas hoje. Eu estou acompanhando os vestígios de pessoas que cresceram, tiveram filhos, morreram. Eu vejo as pessoas recuando, avançando, mudando o seu modo de vida, grupos que eram maiores se dividirem. É uma vida que eu monitoro.”
Mesmo que só planejem ter contato com vestígios, os membros desse tipo de expedição precisam seguir uma série de preparativos para não colocar os isolados em risco. Exames de doenças contagiosas precisam estar em dia, e todos os sertanistas e mateiros devem estar alinhados com a mentalidade de proteger aqueles povos.
As expedições nunca se aproximam demais: ouvir as vozes dos indígenas, por exemplo, é motivo para recuar imediatamente. Afinal, os isolados são ainda melhores na arte da espionagem amazônica. “Eles monitoram o nosso mundo muito melhor do que nós monitoramos o deles. Provavelmente já nos viram no meio da mata várias vezes”, diz Cangussu.

Isolados, mas não sozinhos
Os indígenas isolados sabem se virar na natureza melhor do que qualquer outro brasileiro. Um dos maiores exemplos disso é o chamado “índio do buraco”, que ganhou a alcunha porque sempre construía uma fossa dentro de sua cabana. Ao longo de duas décadas, ele foi o último representante vivo de uma etnia desconhecida. Acredita-se que os outros membros do seu povo tenham sido mortos ou expulsos por madeireiros ilegais na década de 1980.
O índio do buraco caçava, se alimentava, fazia casas e se movia sozinho pela floresta, numa terra indígena (TI) no sul de Rondônia. Ele viveu dessa forma entre 1995 e 2022, quando morreu de causas naturais. Todos os recursos de que ele precisava estavam na mata.
A principal forma de proteger os povos isolados é garantindo seu espaço. Isso ocorre por meio da demarcação das TIs, uma ação que transforma uma grande área em um patrimônio da União – que não pode ser vendida, alugada ou explorada para lucro por ninguém. Os indígenas têm direito ao usufruto da terra, coisa que eles fazem há milênios, de forma sustentável e sem ameaçar a integridade do ecossistema.
Hoje em dia, as TIs são mais do que apenas uma área para resguardar a sobrevivência desses povos – são também uma estratégia de preservação da cosmologia, da cultura, da medicina e dos conhecimentos indígenas. Além disso, estudos (1) mostram que as TIs amazônicas são barreiras para conter o desmatamento e a destruição da floresta.
Nem todos os povos isolados estão em terras indígenas demarcadas. Existem registros de povos em TIs que ainda não foram homologadas (ou seja, de onde fazendeiros, garimpeiros etc. ainda não foram retirados), ou em unidades de conservação que permitem concessões de exploração de recursos naturais. Há ainda suspeita de que existam isolados em seis áreas sem qualquer mecanismo de proteção.

Mesmo viver em uma TI homologada não é sinônimo de segurança. A maior terra indígena no Brasil é a Yanomami, que foi criada há mais de 30 anos. Essa área é constantemente ameaçada por garimpeiros – que trazem doenças, armas, álcool, drogas, violência e abusam sexualmente dos Yanomami, considerados de recente contato.
A própria atividade de garimpo e os assentamentos improvisados provocam impactos ambientais tremendos na floresta, comprometendo a qualidade da água, do solo e dos alimentos.
A situação só chamou a atenção da mídia nos últimos anos, mas os conflitos na região existem há pelo menos um século. O primeiro contato dos Yanomami com não indígenas ocorreu na década de 1920, com a chegada de extrativistas. Não é surpreendente que o encontro tenha sido marcado por epidemias, chacinas e envenenamentos intencionais.
Também não é por acaso que o povo Moxihatëtëma escolheu permanecer isolado após se separar dos Yãroamë, um subgrupo Yanomami, na década de 1920. Eles passaram o último século fugindo, sempre mudando de lugar e vivendo na cabeceira do rio, longe da região preferida pelos garimpeiros. Apesar de relatos esporádicos ao longo do século 20, a sobrevivência do grupo só foi confirmada pela Funai em 1995, quando dois garimpeiros foram flechados por eles.
A legislação brasileira não é clara sobre o que fazer nesses casos. A Constituição garante que os indígenas isolados são cidadãos e têm os mesmos direitos de outros brasileiros. “Se um indivíduo isolado decide integrar a sociedade, ele tem direito a cartão SUS, ao voto e a tudo que um cidadão tem”, diz Acácio Miranda, especialista em direito constitucional.
Mas há uma distinção de obrigações em relação ao resto dos brasileiros, pelo fato de estarem menos inseridos na sociedade. As leis, a propriedade privada, a penalização e a restrição de liberdade, por exemplo, são conceitos que concordamos em respeitar enquanto sociedade – mas os povos isolados nunca assinaram esse contrato. Por isso, eles não são presos ou julgados nesses casos. Para eles, as flechas direcionadas aos garimpeiros são uma forma de proteção pessoal.
Esses casos são bastante raros, diga-se. É mais comum que os isolados se aproximem de assentamentos em busca de recursos, como ferramentas e alimentos cultivados. No Vale do Javari, no oeste do Amazonas, pelo menos dez povos isolados convivem com cinco povos contatados. Beto Marubo, membro da coordenação da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), conta que esse tipo de interação sempre ocorreu na sua aldeia, no oeste do Amazonas.
“Eles conhecem o território, sabem que a gente está ali há décadas, e sabem o limite de até onde devem ir ou não. Eles buscam muito por ferramentas agrícolas, como facão, machado. É algo que eles precisam muito para fazer roça, mas não dispõem lá. Então eles vêm pegar nas nossas roças, geralmente à noite ou quando as pessoas não estão nas comunidades.”
Outro recurso valioso é o fogo – algo que fez um indígena isolado se aproximar de uma comunidade ribeirinha em Lábrea, no Amazonas, em fevereiro deste ano. Em um vídeo que circulou na internet, o homem aparece seminu, aprendendo a usar um isqueiro e vendo a tela de um celular no meio de uma pequena multidão de curiosos.
Nesse tipo de contato repentino, a Funai aciona um plano de contingência e desloca equipes imediatamente para o local. Identificar a língua falada pelo isolado é o primeiro passo para explicar que a intenção é protegê-lo. Quando isso dá certo, os indígenas podem receber vacinas e medicamentos, por exemplo.
O idioma falado pelo rapaz de Lábrea, porém, não foi identificado. Os servidores conseguiram isolar e orientar os ribeirinhos, além de usar gestos para comunicar ao indígena que ele deveria voltar para a floresta. Ele acabou retornando à mata sem ser imunizado – o que não deixa de ser um risco para ele e o resto do seu grupo. Mas não é possível, é claro, distribuir injeções sem consentimento.
Quando as comunidades ao redor dos isolados relatam esse tipo de aproximação, a Funai pode deixar facões, machados e terçados na floresta – mais ou menos como os “brindes” doados pelas frentes de atração dos anos 1980, só que agora com o objetivo oposto. A ideia é que evitem aproximações que podem ser fatais. Alguns povos, como os Moxihatëtëma, nem sequer se interessam pelas ferramentas. Já outros, como os Hi-Merimã, pegam os itens e, às vezes, até deixam presentes de volta.
Embora a Funai tenha um papel insubstituível na proteção desses povos, alguns grupos indígenas contatados também têm estratégias próprias de proteção de seus “parentes” isolados (é dessa forma que alguns indígenas chamam uns aos outros, independentemente de terem um laço de parentesco.)
Em 2020, por exemplo, os povos indígenas da Univaja criaram uma Equipe de Vigilância (EVU), que até hoje monitora o território do Vale do Javari e mapeia invasões com a ajuda de 120 voluntários. Esse tipo de cuidado com os parentes se repete em várias regiões: em Roraima, os Kinji protegem os Pirititi; no nordeste da Amazônia, os Guajajara, os Ka’apor e os Awá Guajá de recente contato protegem os Awá Guajá isolados; no Acre, o mesmo acontece entre os Hunikui e os Nawakui.

Segundo Marubo, a criação da EVU no Vale do Javari foi uma resposta ao sucateamento da Funai promovido pelo governo Bolsonaro, que fechou bases de FPEs. Na época, quem comandava a Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC) era Ricardo Lopes Dias, um missionário evangélico que fez parte da Missão Novas Tribos – mesmo grupo que dizimou o povo Zo’é na década de 1980.
A Missão Novas Tribos, que se chama Ethnos360 no exterior, fez uma vaquinha para comprar helicópteros e se orgulha dos esforços para converter povos isolados na Amazônia, na Ásia e na África. Além de transmitirem doenças, membros do grupo fundamentalista já foram denunciados pelo Ministério Público Federal, acusados de promover trabalho análogo à escravidão. Um missionário americano do mesmo grupo foi condenado por abuso sexual e produção de pornografia infantil enquanto atuava no Brasil (2).
Evitar que esse contato aconteça é mais um dos trabalhos das FPEs, que hoje conta com 30 bases na Amazônia. Embora as bases fechadas tenham sido reabertas, o trabalho de proteção e monitoramento ainda tem problemas. “Uma das principais dificuldades que temos, atualmente, em toda a Funai, é a escassez de recursos humanos, de servidoras e servidores capacitados e em condições de atuar”, explica Marco Aurélio Tosta, atual coordenador–geral da CGIIRC.
Não é brincadeira capacitar os servidores para o trabalho extremamente específico e desafiador na floresta. Ao longo dos últimos anos, muitos deixaram a instituição devido às dificuldades de passar longos períodos embrenhados no mato – muitas vezes sem internet ou contato com a família –, além da remuneração pouco competitiva e desvalorização profissional.
Em outros países, é raro que o Estado sequer tenha um órgão de proteção a povos isolados. A Indonésia, por exemplo, não reconhece oficialmente a existência do povo Hongana Manyawa, um grupo de aborígenes caçadores-coletores que vivem na ilha de Halmahera. Atualmente, seu território está sendo explorado para a mineração de níquel, usado nas baterias de carros elétricos.
“Ali, a política é de negação da existência desses povos. De que, se existem esses povos, eles são considerados primitivos, que têm que ser civilizados, passar a usar roupa etc.”, diz Oliveira. “Em muitos casos, eles têm os direitos totalmente violados.”
O novo colonialismo
Por dependerem da integridade da floresta, esses povos estão entre os mais vulneráveis do planeta. Mesmo quando não há contato direto com outros humanos, as ações de não indígenas afetam seus modos de vida. O garimpo prejudica a qualidade da água; o desmatamento some com animais e plantas importantes; as queimadas apagam do mapa tudo o que os povos da floresta entendem como “mundo”.
Quando ocorre algum contato com a Funai, é comum que os agentes percebam marcas no corpo ou no comportamento dos isolados, como cicatrizes de tiro ou a adoção de hábitos culturais de outros povos. Nem sempre dá para saber como e quando essas trocas aconteceram: elas podem vir tanto de uma época pré- -isolamento quanto de um contato recente.
O próprio homem que fez contato em Lábrea é um exemplo. Embora seu idioma não tenha sido identificado, especialistas de línguas indígenas têm estudado as gravações feitas durante o contato. Para a surpresa deles, as falas do isolado estavam cheias de palavras emprestadas do português, do tupi, do arawá e do katukina.
“Isso mostrou que ele não é uma pessoa excluída do mundo: ele conhece as línguas dos grupos com que ele guerreou e se uniu, dos parceiros e dos inimigos”, conta Cangussu, que mediou o contato. “Ele fazia onomatopeias e movimentos com o corpo para se referir às motosserras, aos motores de popa.”

É um equívoco, então, pensar que esses povos são de alguma forma primitivos ou que vivem da mesma forma há séculos. São pessoas contemporâneas, com estratégias de sobrevivência adaptadas aos desafios do momento em que vivem. E, infelizmente, mesmo a nata da ciência tem dificuldade em reconhecer isso.
Em 2015, a Science, um dos mais renomados periódicos científicos do mundo, publicou um editorial (3) defendendo que todos os povos isolados do mundo deveriam ser contatados. Os autores, dois antropólogos dos EUA, escrevem que o isolamento não é “viável a longo prazo” e defendem que esses indígenas só estão assustados. Argumentam que, se os isolados soubessem que ninguém iria machucá-los ou escravizá-los, eles poderiam escolher se integrar a um mundo cheio de bens e inovações.
Na prática, é claro, essa é uma ideia absurda: parte da premissa de que há jeitos melhores ou piores de viver – e de que nossa civilização vai às mil maravilhas. Um exemplo ilustrativo ocorreu no final de 2014, quando duas mulheres e um adolescente isolados da etnia Awa Guajá se viram encurralados em um território cercado de madeireiros.
Acuados, eles acabaram pedindo abrigo a uma outra aldeia Awá Guajá, que mantinha relações limitadas com o resto da sociedade, na terra indígena Caru, no Maranhão.
Os três foram vacinados, e as mulheres, Marjuá e Itapirỹ, foram transferidas para a capital para o tratamento da tuberculose. Depois, viveram na aldeia por algum tempo. O menino se adaptou bem e até se casou, mas as duas sentiam falta da comida de sempre – segundo elas, não havia farinha, arroz ou mingau que descesse bem, nem mesmo na aldeia.
Elas fugiram para a floresta após um ano, acompanhadas de seus periquitos de estimação. Marjuá morreu de causas naturais nos primeiros dias, e Itapirỹ assistiu seu corpo ser fuzilado gratuitamente por madeireiros que as perseguiam. Itapirỹ foi reencontrada meses depois, fraca e perdida, já que um incêndio havia destruído seus pontos de referência na floresta.
Itapirỹ aceitou voltar a viver na aldeia, mas disse aos “parentes” que tinha tomado pavor de remédio e estava cansada de karaí (não indígenas) mexendo nela. Ou seja: mesmo que o contato ocorra da melhor forma possível – pacificamente, com acesso a cuidados de saúde consentidos –, a experiência pode ser muito traumática.
O editorial da Science foi recebido com muitas críticas por entidades indígenas, ambientais e científicas de todo o mundo. “No Brasil, a comunidade científica vê o contato como uma violência”, diz Tiago Moreira, antropólogo do Instituto Socioambiental. Além de privá-los do seu modo de vida, os isolados entrariam na sociedade marginalizados economicamente, já que o conceito de capital não faz parte da vida na floresta.
A mera existência desse editorial é sinal de que contatos desastrosos não são só uma história de livro didático sobre naus portuguesas do século 16. Até hoje a Amazônia é palco de uma disputa acirrada, espalhada por um território enorme e complexo. De um lado, há a tal civilização, onde os interesses econômicos, a violência armada e a grilagem exigem o direito de converter a floresta em cinzas. De outro, pessoas que, há séculos, reivindicam silenciosamente o direito de existir.
Referências: (1) artigo “Brazilian Amazon indigenous territories under deforestation pressure”; (2) “MPF acusa missionário e castanheiro por explorar índios Zo’é em condições de escravidão” e “Sanford Missionary Sentenced To 58 Years For Production Of Child Pornography”; (3) artigo “Protecting isolated tribes”
Fontes: Livro Vestígios da floresta: Povos indígenas refugiados da Amazônia; Livro Cercos e resistências: povos indígenas isolados na Amazônia brasileira; Instituto Socioambiental (ISA); Survival International.