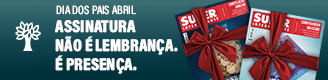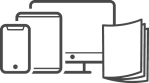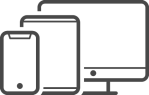E se o futebol não fosse popular no Brasil?
Gostaríamos mais de cinema, formaríamos mais craques no remo. E chutar uma bola de couro seria considerado coisa de rico.

O esporte de Pelé reúne a receita perfeita para ser amado pelas massas: sabe ser emocionante, tem regras fáceis de entender e, principalmente, precisa de pouco para acontecer. Na ausência de bola, qualquer coisa minimamente redonda serve. Faltou um par de traves? Chinelos podem facilmente assumir o posto. Não à toa, a Fifa tem mais países-membros que a ONU (211 a 193).
No Brasil, a prática do futebol foi importada da Inglaterra – mas nunca item de luxo. Os primeiros fãs de futebol em território nacional eram operários britânicos, trabalhando na construção de ferrovias. Habituados a gritar gol em sua terra natal, eles fizeram o futebol virar o esporte do trabalhador, e ganhar o país pelos trilhos do trem ainda no final do século 19.
Os primeiros clubes nacionais ainda tinham DNA da rainha: fundados por ingleses, frequentados por ingleses, eles foram os primeiros a profissionalizar o futebol brasileiro. Surgiram os campeonatos oficiais e as regras se firmaram de vez. Amadores viraram atletas, que se tornaram craques, que faziam sucesso. Era o início de um processo de ascensão social que vale até hoje: sendo bom com a bola nos pés, pobre podia jogar ao lado de membro da elite.
O futebol emplacou de cara no Brasil – mas poderia ter perdido essa chance exatamente aí, caso chutar a bola de couro fosse coisa de rico. Em grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo, movimentos de elitização do futebol tentaram, a princípio, impedir o acesso do povão aos gramados oficiais. As primeiras ligas teimavam em barrar analfabetos – 65% da população no começo do século 20. Os clubes também não aceitavam negros que, até 1923, só podiam assistir.
Foi mais ou menos esse o caminho percorrido por outros esportes, como o rúgbi e o críquete – modalidades também queridas por Charles Miller, brasileiro que, após passar uma temporada na Inglaterra, disseminou as regras do futebol no Brasil. Além de restritivo, o rúgbi ainda pegava mal com os brasileiros: era considerado muito violento. Por aqui, nenhum desses esportes fez mais do que reafirmar a identidade da colônia inglesa.
Se esses impeditivos tivessem vingado, o futebol ficaria mais restrito à várzea, perdendo o potencial de espetáculo. Afinal, é preciso movimentar grana pesada para justificar grandes investimentos dos clubes. O futebol dependia da adesão de um público fiel – demanda impossível de suprir apenas com os mais abastados. É só comparar o tamanho da Premier League ao também britânico torneio de Wimbledon.
A existência de menos arquibancadas para se ocupar aos domingos faria outras formas de entretenimento ganharem mais destaque. O cinema, tão popular quanto o futebol na primeira metade do século 20, poderia ter permanecido como refúgio no fim de semana. Salas em bairros, assim, resistiriam por mais tempo à popularização dos shoppings.
No âmbito esportivo, competiríamos de perto com países do Leste Europeu no polo aquático. Com sorte, veríamos uma versão made in Brazil de Michael Phelps acumular medalhas. Isso porque os esportes aquáticos, naturais candidatos a tirar proveito do nosso clima, também nasceriam com mais destaque.
A primeira grande confederação esportiva nacional foi a Federação Brasileira de Sociedades de Remo, que na primeira década do século 20 organizava também polo aquático e natação. Em um país sem futebol, clubes de regatas como Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama seguiriam sua vocação original – e só chegariam à fama se revelassem remadores de elite.
“O remo foi uma verdadeira febre em certo momento: os remadores passaram a ser conhecidos como nossos jogadores de futebol são hoje. Fortes, saudáveis, bonitos, eles eram assunto nos jornais, os heróis da época”, diz Victor Melo, professor de história comparada da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).
Por falar em heróis, sem Ronaldos e Ronaldinhos competindo pelo apreço dos narradores, o peso de nomes como Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi seria ainda maior – bem como a paixão nacional por automobilismo.
É possível que o futebol brasileiro tentasse se desenvolver tardiamente, como se vê hoje na China e na Índia. A popularidade da ideia dependeria inicialmente de investidores cheios da grana, capazes de trazer jogadores consagrados em final de carreira para abrilhantar a liga nacional. Cenas como o francês David Trezeguet, com 36, vestindo as cores do Atlético Mineiro e o italiano Alessandro Del Piero fazendo gols pela Chapecoense aos 40 se tornariam comuns. Ambos foram reforços de peso da Superliga Indiana em 2014. Poderiam ter brilhado aqui – pelo menos, até que as pratas da casa despontassem.
O impacto na economia também seria brutal: em 2010, o futebol era responsável por 1,1% do PIB nacional, segundo estimativas da FGV (Fundação Getúlio Vargas). Daríamos adeus aos R$ 5 bilhões em receitas que o Brasileirão movimenta por ano entre transferências, patrocínios e direitos de transmissão.
A cultura também seria menos rica: perderíamos as contribuições de Nelson Rodrigues, Mario Filho e João Saldanha à crônica esportiva. As redações jornalísticas no rádio, que começam a se estruturar com as transmissões de futebol, só nasceriam anos mais tarde.
É certo também que a língua portuguesa ficaria um pouco mais pobre. Dos 228,5 mil verbetes listados no Dicionário Houaiss, 502 possuem a palavra “futebol” em suas explicações. Mandando para escanteio esses termos, escritores e poetas precisariam entrar de sola para marcar seus gols na literatura.