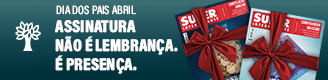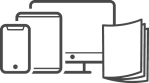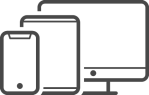“Não é escolha. É estar disposta a assumir sua identidade”
O depoimento de uma mulher transexual sobre a cirurgia de transgenitalização e as motivações e desafios que ela impõe
Wanda*, estudante de comunicação social, 27 anos, é uma mulher transexual. Aqui, ela conta sua história, por que fez a cirurgia de transgenitalização e quais os desafios e preconceitos que enfrenta – antes e depois – da operação
Comecei a me identificar com o gênero feminino desde antes dos meus 6 anos de idade. Mas eu não conseguia contar aos meus pais. Eu sabia que, se eu contasse que era menina, não seria levada a sério. Eu não teria como provar. Como você prova que é homem ou mulher? Essa é uma questão que só impõem às pessoas transexuais. Ao longo da trajetória de uma pessoa transexual, ela precisa constantemente provar e comprovar que ela realmente pertence ao gênero com o qual ela se identifica.
Até uns 10 ou 12 anos de idade, rezava para acordar uma “menina completa”, pois já me concebia como uma menina. Eu me referia ao meu genital, eu me via como uma “menina incompleta” por causa do meu corpo. Quando estava na pré-escola e passava as tardes brincando com os meus primos na casa da minha tia, eu vestia as roupas dela e entre meus primos não havia esse preconceito. Sempre tive mais amizade com a minha prima do que com meus primos meninos. Eu brincava de boneca com ela.
Com os meus pais, o “teatrinho de menino” era bem sucedido, mas, na escola, era mais difícil o meu jeito de ser passar despercebido. Para as outras crianças, aquilo era indício de homossexualidade. Começaram as perseguições, a me chamarem de viadinho, a me agredirem física e verbalmente. Isso acabou, querendo ou não, me prejudicando. Era escola pública, e eu era estudiosa e também era perseguida por isso.
+ Qual a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual?
Essa perseguição me era duplamente ofensiva. Além de ser xingada com teor de agressão, de perseguição, era ruim pois eu não me via como um homem homossexual, mas como uma menina. Com o tempo, o meu modo de ser passou a chamar mais a atenção dos meus pais e da minha avó paterna, que cuidava de mim durante o Ensino Fundamental. Ela dizia “você não pode ser tão educado, tão delicado”, achava que esse meu comportamento só reforçava a perseguição que eu sofria. Sugeriu, enfim, que meus pais me levassem ao psicólogo.
Durante muito tempo, eu fiz o teatrinho de ser menino, de fingir ser quem eu não sou, pois para mim era importante o amor da minha família. Eu cresci nessa tensão: se eu contasse que era menina, será que eles continuariam me amando e me apoiando? Isso sempre foi uma questão que me aterrorizou. Eu já me achava uma enorme fonte de problemas pelas perseguições na escola e não queria trazer mais “problemas” para os meus pais revelando como me concebia, a minha transexualidade.
Na puberdade, comecei a esconder o meu corpo, de todas as maneiras. Só usava calça e camiseta de manga comprida. Não suportava me olhar no espelho. Não conseguia ter qualquer contato físico com ninguém. Pode ser engraçado para algumas pessoas, mas meu primeiro beijo foi no ano passado, com 26 anos.
O que foi decisivo para contar aos meus pais foi ter começado a trabalhar. Se eles não tivessem aceitado e me apoiado, eu não teria como me manter fora de casa. Antes, não me via como agente de mudança da minha própria vida. Pensava que chegaria um momento em que tudo ficaria insustentável e eu daria fim a ela.
Em 2011, quando cursava graduação em jornalismo, entrei numa depressão profunda. Eu me isolei, não confiava em ninguém, desenvolvi uma síndrome persecutória, não me sentia bem, me sentia julgada por todos. É uma culpa que eu carrego, pois deixei de conhecer pessoas incríveis, maravilhosas. Algumas delas só se tornaram minhas amigas depois que eu contei que sou uma mulher transexual, quando já não tínhamos mais muito contato.
No fim do curso, minha situação não era mais sustentável. Nada fazia mais muito sentido. Sem ser eu mesma, não tinha sentido seguir adiante. Eu não tinha vontade de viver. Ou eu me matava, ou eu buscava assistência para dar início à minha transição. Minha psicóloga me apresentou um filme chamado Minha Vida em Cor-de-Rosa [Ma Vie en Rose, de Alain Berliner, França, 1997]. Assisti e chorei muito, pois parecia minha infância roteirizada. Ela falou para eu assistir junto da minha mãe. Assistimos, cada uma num canto do sofá, eu com o rosto escondido, pois não consegui conter o choro de novo. Tentei conversar com ela depois, mas me faltou a voz e comecei a chorar. Ela notou meu desespero e perguntou: “você quer me contar alguma coisa? Me conta.” Eu só chorava. “Você quer me dizer que você é igual à criança do filme?” Eu só assenti com a cabeça. Ela me abraçou, chamou minha irmã e pediu para que eu contasse para ela. Eu contei que me identificava como uma mulher, que eu era transexual. Não lembro exatamente as palavras que eu usei, pois estava muito emocionada.
Minha mãe foi muito legal, assumiu toda a responsabilidade de contar ao meu pai e ao resto da família. Ela falou que eu não me preocupasse, que ela contaria para a família. Foi muito interessante que, no dia seguinte, minha mãe já tinha pesquisado muito sobre o assunto, e veio perguntar a mim coisas que nem eu havia pesquisado direito – sobre a cirurgia de transgenitalização, por exemplo.
Alguns dias depois, enquanto jantávamos todos juntos, meu pai me perguntou se era isso mesmo que eu queria. Expliquei para ele que não era uma questão de escolha, mas que sim, que eu estava disposta a assumir a minha identidade e tudo que fosse necessário, inclusive as transições todas, para me sentir bem comigo mesma.
Em 2013, me submeti a uma cirurgia de feminização facial. Consiste numa série de cirurgias plásticas com o intuito de amenizar os traços do rosto considerados masculinos. Numa delas, é realizado um corte de orelha a orelha, que expõe o osso da face. Aí, fazem a raspagem do osso sob a sobrancelha. Esse osso mais protuberante é tido como um caractere masculino, mas claro, isso varia de pessoa a pessoa, e, até mesmo, de mulher para mulher. O osso é lixado para deixar a testa mais arredondada. Também é feita a raspagem do pomo de adão, que eu não tinha muito. É algo que até algumas mulheres cis [pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi dado ao nascer] têm. Também fiz uma rinoplastia feminizante.
Em seguida, comecei a conversar com meus pais sobre a cirurgia de transgenitalização, que, para mim, era muito importante. Nessa fase, foi essencial o dinheiro que eu economizei, foi só com isso que eu consegui bancar. Meus pais não teriam condição de bancar o tratamento e a cirurgia. Fiz questão de eu mesma bancar tudo: a feminização, os implantes mamários, a terapia hormonal e a cirurgia de transgenitalização. Não sei a quantia exata, mas já gastei mais de R$ 100 mil nesse processo.
+ Como é uma cirurgia de readequação sexual?
A transgenitalização não é algo complexo e de alto risco, ao contrário do que muitas pessoas pensam. É invasiva, mas não se corre risco de morte. No imaginário das pessoas, é uma cirurgia muito arriscada. Meu pai chegou a me perguntar por que eu queria mexer em algo “que Deus te deu e que funciona direito”. Ele não compreendia o meu desconforto, achei a pergunta descabida, bati o pé e decidi fazer. Era imprescindível para eu me sentir bem com o meu corpo. Não conseguia me ver no espelho nua. Hoje eu consigo.
Comecei a pesquisar. Existem várias técnicas, e o país que mais tem tradição na realização dessa cirurgia é a Tailândia. Vendo fóruns na internet, grupos de discussão e vídeos no YouTube, descobri que havia dois cirurgiões mais bem cotados: um deles era o doutor Suporn [o cirurgião Suporn Watanyusakul], na Tailândia, e a doutora Marci Bowers, nos EUA, que é também uma mulher trans. Nunca concebi a cirurgia como algo que iria me transformar em mulher, já era uma mulher mesmo sem a transgenitalização, mas ela era imprescindível para eu me sentir bem com o meu corpo.
O que eu guardei para a cirurgia era a economia de uma vida. No fim, decidi realizar a cirurgia com o Dr. Suporn. Respondi um questionário sobre meus hábitos alimentares, atividades físicas (pois um dos impedimentos para fazer a cirurgia é o sobrepeso) , os hormônios que estão sendo tomados. Então, você escolhe uma data e faz um depósito de 20% do valor total da cirurgia. Essa foi a parte mais difícil, pois é muito burocrático remeter uma quantia tão grande para o exterior. É preciso provar e justificar. Era cerca de US$ 4 mil. Eu mandei, remeti em duas parcelas os 4 mil e assegurei a minha data. Mas não consegui remeter os 80% restantes. Eles exigem que você quite a cirurgia um mês antes da data do procedimento. Pedi que fosse aberta uma exceção para que eu pudesse pagar em espécie. Foi assim, então, que tive de viajar com US$ 20 mil em espécie comigo. Na Tailândia, o limite por pessoa é de US$ 10 mil. Se minha mãe não tivesse ido comigo, eu não teria conseguido entrar. Declaramos esse valor e embarcamos. Morrendo de medo, pela insegurança em viajar com tanto dinheiro em espécie, podendo ser assaltadas, furtadas ou algo assim.
A cirurgia era numa segunda, 9 de fevereiro. No domingo à noite, fui internada, e a cirurgia foi feita na manhã de segunda. Eu fiquei sete dias no hospital. Não podia me levantar. No penúltimo dia antes de sair do hospital, o curativo foi retirado. Na hora em que tiraram, não consegui conter a emoção. Parecia que, finalmente, eu conseguia me enxergar no meu corpo e me sentir bem nele. A sensação era a de que eu tinha me livrado de um peso e a, partir daquele momento, eu poderia viver a vida como eu sonhava viver. Foi um recomeço. A partir dali, eu comecei a reconstruir a minha vida. Ainda estou reconstruindo e dando um sentido para ela.
Nas duas primeiras semanas do pós-cirúrgico, eu não conseguia caminhar, ou me sentar por muito tempo. Eu também não podia ficar muito tempo de pé. Me sentia fraca. Só de atravessar a rua, já era um grande esforço. Mas, mesmo assim, não tive dor nenhuma. Saí do centro cirúrgico sem dor, urinei sem dor, não tive sangramento. Para mim, isso ainda é surpreendente. Não posso dizer que isso ocorre em todos os casos, mas, comigo, posso dizer que não doeu nada.
A cirurgia do Dr. Suporn é uma técnica que consiste em fazer tudo de uma vez. É uma vulvoplastia, além da criação da neovagina, e por isso, geralmente, pode ter algumas complicações, como necrose de algum tecido. Esse tempo de um mês, que ele exige que permaneça na Tailândia, é para acompanhar a evolução da cirurgia, e, caso ocorram complicações, ele faz reparos. No meu caso, apareceu uma pequena parte de tecido necrosado ao redor do clitóris. Nas semanas seguintes, ele acompanhou e fez o reparo. Na época, acabei perdendo um pouco de sensibilidade, mas ela retornou alguns meses depois. Esses reparos são cobertos pelo valor que eu paguei.
+ Dá pra engravidar sem ter feito sexo?
Antes de ir para a cirurgia, o Dr. Suporn me entregou uma caixinha com quatro dilatadores. Um pequeno, um médio e um grande, feitos de acrílico. O quarto é para caso de perda. Geralmente, recomenda-se iniciar a dilatação com o médio. Ele tem uma gradação para medir a profundidade do canal vaginal. Depois que tiram o curativo, já medem o tamanho do canal vaginal. Com a dilatação, essa profundidade costuma aumentar um pouco. A dilatação não tem nada de lúdico, é uma obrigação. Eu não sinto dor, não me excita, me é indiferente. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Conheço meninas que já tiveram orgasmos durante a dilatação. Mas não é bem um momento de exploração, de descobrir o corpo. É um cuidado que se deve ter para que o canal vaginal não se feche, para se opor à tendência do organismo de fechar a cavidade da neovagina na fase pós-operatória.
O Dr. Suporn me ensinou duas técnicas. A primeira é a dilatação estática, que consiste em segurar o dilatador na máxima profundidade, durante 30 minutos. Eu não tinha como sair muito do hotel por causa dessa rotina de dilatação. Durante a viagem com a minha mãe, eu também não pude aproveitar muito, pois, constantemente, tinha de voltar para o hotel para fazer a dilatação. Depois de uma semana e meia, começa a dilatação dinâmica. Você segura o dilatador na vagina por alguns segundos na máxima profundidade e, depois, começa a fazer movimentos cônicos. É uma obrigação. Depois de um mês, a minha intenção era retomar a minha vida, digamos, normal, mas você não retoma. Durante um ano, é preciso ter uma rotina de dilatação rigorosa. No começo, é necessário fazer três vezes ao dia. Para quem trabalha, o Dr. Suporn disse para fazer uma sessão antes, uma após o trabalho e uma terceira antes de dormir. O ideal é que fosse espaçado. Foi como eu fiz, por três meses. Depois, a frequência passa a ser de duas vezes ao dia. Depois do sexto mês, é uma vez ao dia, pelo menos. Isso toma muito tempo, pois cansa, exige esforço.
As relações sociais ainda são bem complicadas para mim, pois agora parece que estou vivendo a minha adolescência. Ainda é arriscado para uma mulher trans sair por aí, vivemos numa sociedade muito transfóbica. Eu tenho medo de um dia contar para alguém e esse alguém não receber isso bem e me agredir. Nos apps de relacionamento, já recebi reações transfóbicas. Eu poderia não contar que eu sou trans, sobretudo depois que eu passei pela cirurgia, mas isso é importante para mim. Eu não me reduzo a mulher transexual, assim como ninguém se reduz a homem ou mulher, mas isso é algo importante para mim, é parte de quem eu sou.
Felicidade é uma palavra que eu não gosto de usar no sentido trivial que muitas pessoas usam. Eu tenho momentos alegres. Felicidade me remete à ideia de plenitude e isso não existe em nenhum sentido. A forma que eu enxergo a felicidade é uma conclusão. Se eu chegar ao fim da vida e dizer “olha valeu a pena, tanto os bons momentos quanto os difíceis”, então vou poder dizer que sou feliz.
Não houve ruptura entre o antes e hoje da minha transição. Eu sou a mesma pessoa. Eu só me apropriei do meu corpo. Cada cicatriz que eu tenho, é como uma bandeira que eu finquei no meu corpo e disse: “esse território é meu”.
* O nome foi trocado a pedido da entrevistada