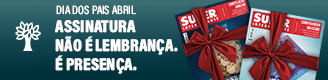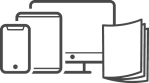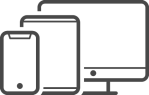Como os indígenas criaram o Iluminismo
Séculos atrás, quando Brasil e Canadá ainda eram colônias, muitos pensadores indígenas criticaram a pobreza e o autoritarismo na Europa. Esses questionamentos foram as bases dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa, mas estavam fora do radar dos historiadores – até agora.

Texto Eduardo Lima | Ilustração Ananda Ferreira
Design Luana Pillmann | Edição Bruno Vaiano
Em 1492, Colombo chegou à América e o mundo cresceu para os europeus. Com as Grandes Navegações, eles descobriram que a Terra não acaba na linha do horizonte, e começaram a interagir com diversas regiões do globo. Pelas rotas de comércio com chineses, árabes, indianos e africanos, circulavam especiarias e tecidos, mas também pessoas com a cabeça cheia de ideias. “O resultado dessa enxurrada de novas ideias”, escrevem David Graeber e David Wengrow em seu best-seller O despertar de tudo, “veio a ser conhecido como Iluminismo”.
Esses pensamentos revolucionários vinham, por exemplo, da China. No século 17, o filósofo alemão Gottfried Leibniz defendeu que os europeus seguissem o modelo chinês de governança. E, durante os séculos 18 e 19, os governos da Europa realmente foram se parecendo cada vez mais com o sistema que existia desde o ano 500 na China, com uma classe de burocratas aprovados em concursos públicos.
Por séculos, historiadores franceses deixaram em segundo plano a origem das ideias radicais que abalaram o Velho Mundo após o Renascimento: nos lembramos de nomes como Rousseau ou Voltaire, mas os livros didáticos não falam dos textos que esses filósofos liam ou com quem conversavam.
Hoje, conforme desvelamos as fontes desses autores, encontramos não apenas influências da Ásia e da África mas também das Américas. E tudo começou com as críticas de indígenas brasileiros à civilização europeia.
Tupis contra a desigualdade
Em 1555, os franceses instalaram uma colônia no Brasil, na Baía de Guanabara. Durante as duas décadas que durou a França Antártica – sim, esse era o nome do assentamento –, os comedores de baguete se associaram aos indígenas da região para se protegerem dos portugueses.
O relacionamento com os habitantes originais da costa brasileira já vinha de antes. Em 1550, houve uma festa enorme em Rouen, na França. Essa homenagem ao rei Henrique II contou com 50 indígenas brasileiros, levados para a Europa para encenar o modo de vida tupinambá.
Tupinambá, como explica o antropólogo e coordenador do Centro de Estudos Ameríndios da Universidade de São Paulo (USP) Renato Sztutman, é como os povos tupi-guarani ficaram conhecidos entre os franceses. “Esse não é exatamente o nome de um povo”, mas sim uma alcunha genérica para vários povos, que falavam línguas de um mesmo tronco linguístico. Outra característica compartilhada é que eles normalmente não tinham chefes supremos – e optavam por uma governança mais horizontal, descentralizada.
Alguns anos depois da grande festa brasileira em Rouen, o filósofo Michel de Montaigne – um dos intelectuais mais importantes do Renascimento – entrevistou três tupinambás e escreveu o ensaio Dos canibais, onde ele relata as críticas dos indígenas aos europeus. Por que tem tanta gente passando fome enquanto alguns poucos comem em excesso? Por que adultos barbudos obedecem ao rei Carlos IX, que era um adolescente de 15 anos na época da conversa?
“Desigualdade social e desigualdade política”, como explica o filósofo Mauro Dela Bandera Arco Júnior, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), eram os principais problemas que os tupis enxergavam entre os franceses. Montaigne valorizou tanto as críticas dos nativos brasileiros que chegou a dizer que, apesar de os indígenas comerem carne humana, os verdadeiros canibais eram os europeus, se envolvendo em intermináveis perseguições e guerras religiosas. Enquanto isso, Étienne de La Boétie, amigo de Montaigne, escreveu o Discurso da servidão voluntária. Com base em relatos sobre a América, ele argumenta: se os indígenas recusam o poder coercitivo e hierarquias arbitrárias, os europeus podem fazer o mesmo.
Raízes indígenas
A ideia de que europeus foram influenciados intelectualmente pelos ameríndios não foi levada a sério pelos historiadores de antigamente. Na cabeça deles, o Iluminismo e sua crença na razão não poderia ter influência de indígenas, que nem eram considerados racionais.
As evidências reunidas por acadêmicos contemporâneos como os Davids Wengrow e Graeber, porém, mostram o contrário. O livro O despertar de tudo explica que os europeus tinham longas conversas com os habitantes das Américas e passavam anos aprendendo suas línguas.
Os filósofos que começaram a escrever sobre liberdade e igualdade na França citam explicitamente a influência que os relatos de viagem dos colonizadores tiveram em suas ideias. A troca intelectual entre europeus e ameríndios era “muito maior do que a gente pode imaginar”, afirma Sztutman, da USP.
Essas narrativas de viajantes e relatos de missionários eram os best-sellers da época. “Esses livros eram apreciados”, escrevem os Davids, “porque continham ideias inéditas e surpreendentes”.
Algumas das críticas mais incisivas aos invasores europeus vieram dos wendats, povo que viveu em regiões que hoje fazem parte dos EUA e do Québec, a província francófona do Canadá. O padre Lallemant, jesuíta que viveu na região, escreveu sobre os wendats em 1644: “São pessoas livres, e cada qual se considera tão importante quanto os demais; e só se submetem aos seus chefes até onde lhes agrade”. Sobre a inteligência dos ameríndios, ele chegou a dizer que “não são de maneira nenhuma inferiores aos europeus”.
A nação wendat tinha uma governança democrática baseada no debate racional e em consensos. O povo só obedecia quando era convencido. O frei Gabriel Sagard, autor de um livro sobre os wendats que seria usado de fonte pelos iluministas Locke e Voltaire, ficou impressionado com a eloquência dos nativos. Ele conta que esses indígenas repreenderam os franceses severamente por sua “falta de caridade”, já que na França havia muitos mendigos – e os wendats estavam acostumados a ajudar quem precisava.
O padre Lejeune, que foi superior dos jesuítas na região do Canadá na década de 1630, disse que praticamente todos eles eram ótimos oradores, sendo treinados em conselhos que se reuniam todos os dias nas aldeias para deliberar e tomar decisões políticas. Até generais europeus experientes, lutando contra os indígenas, eram levados às lágrimas pela eloquência deles.
Essa atmosfera de debate constante é muito parecida com a que tomaria conta da Europa no século seguinte, quando o Iluminismo começou na forma de rodas de discussão em cafés e salões. E foi nesse contexto que os wendats produziram uma estrela intelectual: o estrategista Kondiaronk.
O sábio wendat
Orador e porta-voz do conselho da Confederação Wendat, Kondiaronk foi um habilidoso político que protegeu seu povo dos europeus e das Cinco Nações Haudenosaunee, nativos de quem os wendats eram inimigos. O padre Pierre de Charlevoix disse que “talvez, ninguém jamais o tenha superado em capacidade mental”.

Louis Armand de Lom d’Arce, francês que ficou conhecido como Lahontan, foi para o Canadá com 17 anos e ficou fluente na língua wendat. Em 1703, de volta à Europa, ele publicou um livro com quatro conversas com um sábio indígena de nome Adario. Debaixo do pseudônimo estava Kondiaronk, e suas críticas à religião e à política europeias acabaram publicadas na França.
O livro foi um sucesso. Mas os franceses não acreditaram que o diálogo era real. Pensaram que escrever a obra em forma de conversa era só um recurso estilístico – e que as ideias contidas ali, na verdade, eram de Lahontan.
Mauro Bandera, da UFPR, explica que, na primeira edição da Enciclopédia – um marco do Iluminismo organizado por Jean d’Alembert e Denis Diderot em 1722 –, os argumentos de Kondiaronk foram considerados “tão bons que seria impossível terem sido expressos pela boca de alguém que, no fundo, é um selvagem”.
Preconceito puro. Hoje sabemos que o sábio wendat possivelmente visitou a França em 1691 como embaixador do seu povo, o que explicaria o conhecimento aprofundado que ele tinha da sociedade europeia. Suas críticas se concentraram na falta de liberdade e no poder do dinheiro e das posses, que fazem pessoas iguais serem tratadas de maneiras diferentes. O livro de Lahontan pode até não ser 100% verdadeiro – afinal, ele não tinha um gravador, e com certeza expressou algumas ideias em suas palavras –, mas definitivamente não é 100% ficção.
Kondiaronk diz que nunca seria feliz vivendo em Paris, mas Lahontan seria depois de se adaptar ao modo de vida wendat. Ele parece ter razão nesse aspecto: “A história colonial da América do Norte e da América do Sul é repleta de relatos de colonos, capturados ou adotados por sociedades indígenas, que tiveram a possibilidade de escolher onde queriam ficar e quase sempre escolhiam ficar com elas”, escrevem Graeber e Wengrow. No caso dos ameríndios, o contrário era quase sempre verdade.
Iluminismo com tempero indígena
Inspirados por Lahontan, quase todos os principais pensadores do Iluminismo escreveram críticas à sociedade europeia criando diálogos imaginários com forasteiros ficcionais. Montesquieu, que criou a divisão do Estado em três poderes, fez isso com um persa. A Madame de Graffigny escreveu Cartas de uma peruana, em que criticava a sociedade francesa pelos olhos de uma princesa inca imaginária. O livro é, até hoje, tido como um marco feminista.
E claro: houve Rousseau. Meio século depois das ideias de Kondiaronk serem publicadas na Europa, elas ecoaram no discurso do mais famoso dos filósofos franceses: “O primeiro que, tendo cercado um terreno, decidiu dizer ‘isso é meu’ e encontrou gente simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro inventor da sociedade civil”. Rousseau parece concordar com Kondiaronk sobre os problemas europeus. Ele reconhece que os povos americanos vivem em algo mais próximo do que ele idealizava como o estado original do ser humano, com liberdade e igualdade. Daí saíram dois terços do lema da Revolução Francesa: “liberdade, igualdade e fraternidade”.
“O contato com os intelectuais indígenas transformou o pensamento do Ocidente, que era muito hierárquico”, explica Sztutman. E Mauro completa: “O que se imaginava ser um debate entre europeus, na verdade, teve misturas e contatos com diferentes povos não ocidentais”. O acesso inédito a olhares tão diferentes sobre o mundo permitiu que os filósofos iluministas percebessem o que havia de errado em coisas que eles antes davam por certas – como a transmissão do poder de pai para filho, ou a concentração do dinheiro na mão de uma elite minúscula.

É muito difícil, hoje, imaginarmos o quanto a América e seus povos eram algo alienígena para os europeus. Qualquer um com acesso à internet tem alguma consciência da diversidade de estilos de vida e ideologias que existe mundo afora, e a globalização diluiu as diferenças entre povos. Já no século 17, quem quisesse conversar com Kondiaronk precisava passar semanas em um navio – e então explorar o Canadá sem internet ou celular, com a missão de aprender uma língua que não está no Duolingo. Uma visão de mundo diferente, naquela época, era absurdamente diferente.
Isso não significa, nem de longe, que a Europa já aprendeu tudo que tinha para aprender com seus colonizados. Se hoje a democracia e os direitos civis estão previstos nas Constituições de todos os países desenvolvidos, o trato do Ocidente com a natureza ainda deixa um bocado a desejar. E os indígenas podem ajudar.
Filosofia indígena hoje
As monarquias absolutistas não são um problema no século 21 como eram no século 18. Nossa maior questão é outra: o aumento na temperatura da Terra causado pela emissão de gases de efeito estufa – gatilho de um desequilíbrio climático e ecológico que, se não tomarmos cuidado, pode tornar o planeta inabitável para nós e incontáveis outras espécies.
Nesse contexto, o pensamento indígena aparece como uma alternativa para reconciliar o relacionamento do ser humano com a natureza. Essa é uma questão política inédita para nós em sua abrangência, porque envolve todos os seres vivos, e porque as consequências demoram a chegar: as mudanças climáticas ocorrem ao longo de décadas, não dias, o que torna mais difícil percebê-las e temê-las.
Hoje, não faltam filósofos e políticos europeus que nos entendem em pé de igualdade com o resto da natureza, mas essas ideias são recém-nascidas se comparadas aos milhares de anos que os nativos americanos passaram tendo uma relação sustentável com seus ecossistemas: nos anos 1980, Amsterdã ainda era uma cidade de carros, não de bicicletas, enquanto os povos amazônicos já praticavam agroecologia antes de Cabral. Essas novas perspectivas – que, de novas, não têm nada – mostram que há jeitos de viver sem esgotar a Terra.
Pensadores como Davi Kopenawa e Ailton Krenak estão sendo lidos nas universidades e publicados por uma das maiores editoras do Brasil, a Companhia das Letras. Em 2023, Krenak se tornou o primeiro indígena eleito imortal da Academia Brasileira de Letras. No seu livro mais recente, ele defende um futuro ancestral, retomando a relação com a natureza que deixamos para trás – para garantir nosso futuro, e não nossa extinção. Esse é o único caminho. Hoje, parece óbvio que liberdade, igualdade e fraternidade devem estar na Constituição. Mas ainda há um bocado de ideias indígenas que precisarão se tornar autoevidentes se quisermos chegar a 2100 morando em um planeta, e não em um forno.