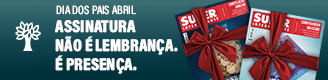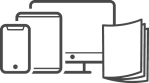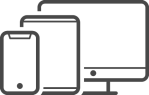Apátridas: as pessoas de lugar nenhum
Você pode perder a sua nacionalidade - e virar um cidadão sem pátria, rejeitado pelo mundo, sem direito a viver em nenhum país. Parece coisa de filme; mas aconteceu com estas cinco pessoas.
Ninguém me quer
Mikhail foi rejeitado por dois países. Depois de muita insistência, os EUA decidiram acolhê-lo — mas aí mudaram de ideia. E as coisas ficaram piores ainda.
Quando a União Soviética chegou ao fim, em 1991, o agente de viagens Mikhail Sebastian virou apátrida. Nascido no Azerbaijão, na época em que o país ainda era parte da URSS, ele perdeu o direito à nacionalidade: o governo azerbaidjano não quis reconhecer Mikhail, pois ele pertencia à etnia armênia. A Armênia também não lhe deu cidadania, por não estar convencida de seus laços com o país. Então ele resolveu tentar a sorte nos Estados Unidos – onde a legislação permite que apátridas obtenham visto de residência. O pedido foi negado, mas o ex-soviético resolveu continuar nos EUA, como clandestino. Em 2002, um juiz determinou que ele fosse preso e deportado.
O problema é que, a essa altura, o passaporte de Mikhail, da finada URSS, já não tinha nenhum valor – e não havia para onde deportá-lo. Os americanos resolveram soltá-lo e conceder-lhe um visto de trabalho. Com duas condições: Mikhail tinha de se apresentar regularmente às autoridades, e não podia sair dos EUA. Só que ele adorava viajar. Visitou vários territórios americanos, como Havaí, Guam, Porto Rico e Samoa Americana, uma possessão dos EUA na Polinésia. Aí ele resolveu dar uma esticadinha até a vizinha Samoa, um país independente. Quando quis regressar aos EUA (onde tinha uma casa, na Califórnia), teve uma surpresa: foi impedido de voltar. Para o Departamento de Imigração, ao fazer a viagem Mikhail havia se autodeportado.
Sem uma pátria para onde retornar, ficou preso em Tutuila, perto de Samoa, por mais de um ano. Proibido de trabalhar, ele foi acolhido na casa de uma família samoana, e vivia com uma ajuda de custo semanal de US$ 50, paga pelo governo da região. Na maior parte do tempo, era visto no McDonald’s local, usando a conexão à internet para postar apelos online. “Não aguento mais. Só quero ir para casa”, declarou num deles. Em março de 2013, já com 39 anos, Mikhail Sebastian finalmente recebeu permissão para voltar aos EUA. Ele tinha virado uma celebridade em Samoa, onde participou de várias reportagens e programas de TV. “As pessoas ficaram tristes ao vê-lo partir, mas estão muito felizes ao mesmo tempo”, declarou La Poasa, repórter da rádio KHJ de Samoa, que trabalhou na cobertura do caso.
Uma vida no aeroporto
Expulso do Irã e sem visto para ficar na Europa, ele viveu 18 anos no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.
O filme O Terminal (2004), estrelado por Tom Hanks, conta a história de Viktor Navorski, um homem que passa nove meses preso no aeroporto internacional John F. Kennedy depois que seu país, a fictícia Krakozhia, passa por um golpe de estado e deixa de existir. O filme é baseado na história real do apátrida Merhan Nasseri, que viveu por 18 anos no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Depois de participar de manifestações contra o governo do Irã, sua terra natal, e passar quatro meses preso e sendo torturado, Nasseri foi expulso do país. Pediu asilo a várias nações europeias, mas não conseguiu. Em 1988, para evitar sua deportação da Bélgica, ele tomou um voo para Paris – onde disse que seus documentos haviam sido roubados. Sem documentos, ele não poderia ser expulso. Mas também não poderia sair do aeroporto. Nasseri passou a morar no terminal 1. Sempre acordava às 5h. Nesse horário, quando os banheiros do aeroporto ficavam vazios, aproveitava para fazer higiene pessoal. Para manter as roupas limpas, contava com a solidariedade de funcionários de lojas do aeroporto, que se ofereciam para lavar as peças – e também davam dinheiro para ele se alimentar.
Em 1999, a França concedeu um passaporte a Nasseri. Mas aí aconteceu o inesperado: ele se negou a assinar os papéis. Preferiu continuar vivendo no aeroporto. “Nesse momento entendi que ele havia perdido o contato com a realidade”, afirmou na época seu advogado, Christian Bourguet. O apátrida permaneceu no aeroporto até julho de 2006, quando teve um problema de saúde e foi hospitalizado. Em 2007, teve alta do hospital – e desde então vive, como um anônimo, em uma casa de caridade no centro de Paris.

O homem sem nome
Ele precisou abrir mão até do próprio nome para voltar a existir juridicamente, aos 52 anos de idade.
Sophalay de Monteiro tinha apenas 17 anos quando foi para o Vietnã. Estava fugindo do sangrento regime do Khmer Vermelho no Camboja, onde o governo tentava implantar uma forma radical de comunismo agrário. Os moradores das cidades foram deportados para o campo e submetidos ao trabalho forçado, enquanto a elite intelectual era exterminada, acusada de ligações com o capitalismo. Estima-se que 2 milhões de pessoas tenham morrido durante o regime, assassinadas ou de fome. Quando adentrou o território vietnamita, Sophalay achou que os seus problemas haviam ficado para trás. Instalado em Ho Chi Minh, tudo o que ele queria era trabalhar, construir uma família, comprar uma casa e dar uma vida digna aos filhos. “Mas eu não sabia quão difícil isso seria sem uma cidadania”, disse ele num depoimento à ONU.
Mesmo vivendo com uma vietnamita, ele não pôde se naturalizar nem transmitir alguma nacionalidade aos filhos, já que havia perdido a cidadania cambojana ao fugir do país. Por causa disso, Sophalay não podia ter nenhum bem em seu nome e passou dificuldades a vida toda para conseguir trabalho. A família não tinha direito a previdência nem atendimento médico, benefícios exclusivos dos cidadãos vietnamitas. Sua filha, Sheila, perdeu uma bolsa de estudos no Japão porque não podia tirar passaporte. O filho, Kosal, foi impedido de se casar. “Eu não tinha nenhum documento e as autoridades não podiam expedir a certidão de casamento”, explica. Uma desgraça só.
A família passou décadas nesse limbo. Até que, em julho de 2010, o governo do Vietnã mudou as leis de cidadania. Sophalay, sua família e outros 2 mil cambojanos receberam cidadania vietnamita. Com a mudança, Sophalay pôde comprar uma moto e dar entrada numa casa. Seu filho Kosal foi promovido no emprego e teve um aumento de salário. Sheila planeja fazer uma pós-graduação na Europa, já que agora pode viajar. Para ter direito à nacionalidade vietnamita, porém, o ex-refugiado teve de abrir mão do próprio nome – Sophalay de Monteiro – que ele se orgulha de ter herdado de missionários portugueses que atuaram no Camboja no século 17. Mas ele não reclama. “Abrir mão do meu nome foi um preço pequeno diante do que significou para mim finalmente conseguir a cidadania”, diz Sophalay, que está com 52 anos de idade e agora se chama Tran Hoang Phuc. Ele mesmo escolheu o nome – que significa “felicidade dourada” em vietnamita.

Lugar errado, hora errada
Railya Abulkhanova estava estudando na Rússia quando a União Soviética foi extinta. Essa coincidência mudaria sua vida para sempre.
Em 25 de dezembro de 1991, num discurso transmitido pela TV, Mikhail Gorbachev declarou o fim da URSS e anunciou sua renúncia. Como muitos de seus compatriotas, a estudante Railya Abulkhanova, de 18 anos, ficou estarrecida. “No começo, não acreditamos. Pensamos que os países se reuniriam de novo”, lembra. Nativa do Cazaquistão, ela havia se mudado para a Rússia um ano antes para estudar. Para isso, havia aberto mão do registro em sua terra natal e feito um registro provisório de moradia na Rússia, conforme previa a legislação soviética. “Era um instrumento com o qual as autoridades monitoravam o deslocamento dos cidadãos”, explica.
Só que, com o fim da URSS, as novas repúblicas independentes decidiram só conceder nacionalidade aos cidadãos que tivessem residência permanente. E ela não tinha. Havia se tornado apátrida. Railya acabou conseguindo entrar no Uzbequistão, mas vivia com restrições: toda vez que quisesse visitar sua família no Cazaquistão, tinha de pagar por um visto caríssimo, que equivalia a três meses de salário. Em 2008, ficou noiva de um francês – mas foi proibida de viajar até lá. Hoje com 39 anos, ela trabalha como tradutora. “Quando conto que sou apátrida, percebo surpresa, ignorância e desconfiança. É uma reação parecida àquela de quando alguém revelava que era soropositivo, quando a aids foi descoberta. Há uma total indiferença das pessoas, e isso mata você aos poucos. Você está sempre constrangido.”
Uma cidadã de última classe
Filha de mãe libanesa, Zeinab Shehayib nasceu e viveu toda a sua vida no Líbano. Mas isso não foi suficiente para que ela tivesse direito à cidadania.
Zeinab Shehayib, de 25 anos, nasceu e cresceu no Líbano. É filha de mãe libanesa. Mas não tem direito à cidadania do país. Isso porque a lei libanesa não permite que as mulheres transmitam automaticamente sua cidadania aos filhos. Como o pai de Zeinab era egípcio e morreu antes de transferir sua própria cidadania à filha, Zeinab e a irmã, Manal, tornaram-se apátridas na própria terra natal. Isso provocou uma série de problemas. Quando ainda era estudante, Zeinab ganhou uma bolsa de estudos no Canadá, mas não pôde ir porque não tinha passaporte.
Em todos os trabalhos que consegue, o salário de Zeinab (que é vendedora) é mais baixo que o dos colegas e a jornada, mais longa, como se ela fosse uma imigrante clandestina. “Uma vez, me candidatei a uma vaga numa companhia de cosméticos. Minha experiência preenchia os requisitos e me saí bem na entrevista”, recorda. Porém, quando a recrutadora pediu sua carteira de identidade para a assinatura do contrato, tudo ruiu. “Quando eu disse que não tinha os documentos libaneses, a recrutadora rasgou o contrato e atirou na lixeira na minha frente. Fui para casa chorando. Eu me sinto como uma prisioneira”, disse em depoimento à Acnur, agência da ONU que cuida de refugiados. A condição de apátrida interfere até na vida pessoal da vendedora, que acabou perdendo o noivo porque a falta de documentos a impedia de se casar. “Ele desistiu de mim.”