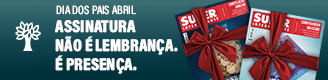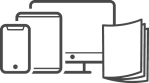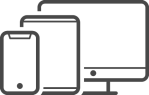O que está escrito no Alcorão?
Conheça a história do livro mais importante do Islamismo – e entenda como suas palavras são deturpadas por grupos extremistas.

Nota: Esta é uma reportagem de capa da Super publicada em 2001, ano da invasão do Afeganistão pelos EUA. Duas décadas depois, seus esclarecimentos permanecem relevantes, então decidimos resgatá-la.
O mercador Muhammad ibn Abdallah dormia tranqüilo numa caverna próxima à cidade de Meca, atual Arábia Saudita. De repente, foi arrancado do sono por uma devastadora sensação da presença divina. Ele tinha 40 anos e aquela era sua primeira experiência sobrenatural. Um anjo apareceu e ordenou: “Recita!” Muhammad tentou argumentar que não era digno de pronunciar palavras divinas, mas o anjo abraçou-o com força, fazendo-o soltar todo o ar do pulmão. “Recita!”, insistiu. O mercador obedeceu. Recitou aquela vez e continuou recitando a cada vez que o anjo falava com ele. Isso durou 23 anos, até sua morte, em 632 d.C. As palavras divinas proferidas por Muhammad – ou Maomé, como o chamamos em português – foram reunidas versículo por versículo no Alcorão (em árabe, recitação), livro sagrado seguido até hoje por um quarto da população mundial – 1,3 bilhão de pessoas, incluídos aí os terroristas que participaram do atentado do dia 11 de setembro.
Pouco compreendido pelo Ocidente, o Alcorão sempre foi uma espécie de caixa-preta do Islã, envolto num clima tão misterioso quanto o corpo das mulheres afegãs sob a burqa (cujo uso obrigatório, por sinal, não está no Alcorão, que apenas recomenda a elas que se vistam “com pudor”. O livro estabelece claramente que as mulheres devem ser bem tratadas e que possuem igualdade de direitos com os homens). Os 114 capítulos do Alcorão, chamados de suras, estão ordenados de uma maneira bem diferente da organização encontrada na Bíblia, por exemplo. Para começar, não começam pelo começo, como na história da criação do Gênesis. “As suras são organizadas por temas”, diz o libanês Samir El Hayek, tradutor da primeira edição, no Brasil, do Alcorão em português. Ou melhor, tradutor do “significado do Alcorão”, já que os muçulmanos só chamam de Alcorão a versão original, em árabe, com as palavras exatas de Alá (para o Islã, não houve alteração nenhuma no texto desde que ele foi escrito).
Essa é outra diferença do Alcorão quando comparado com o Novo Testamento. O livro sagrado dos muçulmanos é a própria revelação, a manifestação de Deus (Alá, em árabe) – um papel comparável ao de Jesus no Cristianismo. Embora o texto possa soar repetitivo e enfadonho em português, em árabe as palavras ganham musicalidade. “Seu estilo entre a prosa e a poesia é inigualável”, diz Safa Jubran, professora de árabe da Universidade de São Paulo (USP). O livro não é importante apenas pelo conteúdo do que está escrito lá – as próprias palavras são sagradas, independentemente de compreendermos seu significado. Por isso, devem ser lidas em voz alta, para que envolvam o ouvinte e ele sinta a transcendência e a presença de Alá – os muçulmanos contam que várias pessoas converteram-se ao Islamismo só de ouvirem o Alcorão.
Mas há muitas semelhanças entre os livros sagrados dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. O anjo que ditou as palavras para Maomé é Gabriel, o mesmo que avisou Maria da sua gravidez. Além disso, o Alcorão admite que Abraão, Moisés e Jesus receberam, de fato, mensagens divinas. Só que Jesus, para o Islã, não é o filho de Deus, mas um dos grandes profetas, assim como Moisés e o patriarca Abraão, ambos da linhagem dos judeus – daí o Islã compor, junto com o Cristianismo e o Judaísmo, o grupo das religiões abraâmicas. “Reconhecemos o Antigo e o Novo Testamento como parte da mensagem divina”, diz o xeque Ali Abdune, do Centro Islâmico de São Bernardo, em São Paulo.
Ou seja: assim como os cristãos acreditam que o Evangelho veio completar o Antigo Testamento, os muçulmanos crêem que o Alcorão é a versão definitiva da palavra divina. Depois dele, não haverá novas mensagens. Por isso, a riqueza de detalhes. Entre os seus 6 326 versículos, há desde instruções para o casamento até regras sobre como o governante deve agir na cobrança de impostos. “O Alcorão é um sistema econômico, jurídico e político”, diz o xeque Jihad Hassan Hammadeh, um dos líderes da religião islâmica no Brasil.
Para aquele povo disperso no deserto, o livro caiu como uma luva. Os árabes não tinham propriamente uma religião que os unisse e que desse sentido a suas vidas. Tinham deuses e cultuavam ídolos como a pedra preta – até hoje mantida ao lado da Caaba, o prédio sagrado em Meca na direção do qual os muçulmanos do mundo rezam. Sua lei também era muito simples. Não havia pena nem para casos de homicídio: a tribo do assassinado tinha direito de matar qualquer um da tribo do assassino. A vida valia pouco. Com regras desse naipe, logo não sobraria árabe para contar a história. A lei do Alcorão trouxe uma boa dose de ordem e sossego. Por exemplo, proíbe o assassinato entre os muçulmanos e faz deles irmãos.
Quando Deus estabelece regras sobre negócios e lei penal, fica difícil para um soberano revogá-las. Por isso, no mundo islâmico, os líderes políticos sempre tiveram que se submeter aos preceitos do Alcorão, pelo menos até o século XIX. Não é à toa que, além de profeta, Maomé foi um líder político, que ergueu um poderoso Estado. Ele resolvia conflitos, estabelecia regras e guiava seus súditos-fiéis. “No Antigo Testamento essa intersecção entre religião e Estado também existia, mas o Evangelho afrouxou-a. Jesus disse: ‘Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus’”, diz o historiador holandês Peter Demant, especialista em relações internacionais e Oriente Médio, que dá aulas na USP.
Muito sangue foi derramado ao longo da expansão do Islamismo, inclusive durante a vida de Maomé. O profeta usou a espada para se defender das tribos árabes politeístas que o acusavam de heresia por pregar a existência de um Deus único. Várias passagens do Alcorão justificam essa ação pela força. As instruções de Alá para lidar com os politeístas, por exemplo, teriam sido recebidas pelo profeta num desses momentos de guerra. Primeiro, diz o texto, deve-se tentar convertê-los. Caso eles não aceitem a proposta, podem manter sua fé, desde que paguem tributos. Se os infiéis, ainda assim, não toparem, acabou-se a diplomacia: “Matai os idólatras, onde quer que os achei; capturai-os, acossai-os e espreitai-os”. O resgate das passagens belicosas do Alcorão por líderes e governantes em tempos de guerra foi uma constante em seus 14 séculos de história.
O Alcorão, então, é um hino de guerra? Longe disso, dizem tanto adeptos da fé muçulmana quanto cientistas que escrutinam as religiões. “Pelo Alcorão, a única guerra justa é a de autodefesa”, escreve a teóloga inglesa Karen Armstrong, ex-freira católica e profunda conhecedora das três religiões abraâmicas, em seu livro Uma História de Deus. “Deus disse que quem mata um inocente mata toda a humanidade”, afirma o xeque Jihad. Além disso, a presença de mensagens violentas não é exclusividade do Islamismo. “Tanto a Bíblia quanto o Alcorão têm trechos de violência”, diz Eliane Moura da Silva, professora de história das religiões da Unicamp. “Maomé era um guerreiro e um estadista em defesa da sua fé, mas não há como negar que personagens do Antigo Testamento, como Josué, líder dos judeus na conquista da Terra Prometida, também eram.”
O entendimento do Islamismo, no entanto, vai além do Alcorão. Quando morreu, em 632, Maomé deixou a seus seguidores, além do livro sagrado, seu exemplo de vida, que, segundo Alá, deve ser imitado. Essa tradição, que, em árabe, diz-se suna, é composta pelos atos e dizeres de Maomé, chamados de hadiths. “Para os muçulmanos, os hadiths são leis, inferiores apenas ao livro sagrado e vigoram até hoje, regendo boa parte da vida cotidiana”, diz o xeque Jihad. É um hadith, por exemplo, que proíbe aos artistas a reprodução fiel de animais, baseado no preceito de que só Deus pode dar a vida. Representar seres humanos, então, nem pensar.
Apesar de inquestionáveis, os hadiths passaram por muitas transformações até chegarem à forma atual. Muitos foram transmitidos oralmente por mais de 100 anos até serem escritos e houve muitas alterações, devido à precariedade da tradição oral e à incorporação de tradições dos vários povos do mundo árabe.
Para organizar essa bagunça, criou-se, já no século VII, uma ciência para estudar os hadiths e checar sua credibilidade. Essa tarefa hercúlea e, às vezes, impossível, de compilação dos atos e palavras de Maomé incluía visitas às cidades onde viveram as testemunhas e comparação de dados, como datas e lugares, com o que dizia a lei. Desse processo emergiram, no século IX, seis grandes coleções de tradições que, juntas, contêm milhares de hadiths. Mas isso não quer dizer que a lei islâmica tenha sido engessada naquela época. “O Alcorão ganha valor à medida que é interpretado em cada comunidade, de acordo com seus interesses”, diz a historiadora Eliane, da Unicamp.
Assim, as dúvidas que sobrevivem ao exame do Alcorão e da suna devem ser submetidas a uma terceira instância: o ijma, ou o consenso da comunidade. “Maomé teria dito: ‘Na minha comunidade não tem erro’. Se há consenso, aquilo é verdade”, diz Peter Demant, da USP. Um ijma encerra a questão e se transforma em uma lei. Tratava-se de um processo democrático, de toda a comunidade. Aos poucos, porém, a opinião dos estudiosos das leis foi valorizada e os ulemás, uma espécie de clero muçulmano, ganharam status de legisladores, muitos deles trabalhando dentro do governo.
Quando Maomé morreu, surgiu um problema: a escolha do seu sucessor. Nem o Alcorão nem os hadiths versavam sobre o assunto. Não demorou muito e as disputas começaram. O terceiro sucessor do profeta (khalifa, em árabe) foi assassinado por opositores. Seu substituto, Ali ibn Abi Talib, primo de Maomé e marido de sua filha, teve que defender sua legitimidade à força e, após um período de guerras, propôs um consenso com seus opositores. Tudo isso seriam apenas intrigas de poder não fosse a sobreposição, no Islamismo, das lideranças política e religiosa. Para quem acreditava que a sucessão do profeta era ditada por Deus, a tentativa de resolver a questão pelo entendimento pareceu uma blasfêmia. A ponderação, assim, enfraqueceu Ali, que acabou assassinado. Seus partidários deram origem a uma facção islâmica para a qual Ali, como sucessor legítimo do profeta, é iluminado e infalível.
São os xiitas (de shia, que significa “partido”, em árabe), um ramo minoritário no Islamismo, mas prevalente até hoje no Irã. A grande maioria dos muçulmanos, porém, cerca de 90%, só crêem na tradição do profeta, a suna. São os sunitas.
As divisões não evitaram que, num piscar de olhos, a mensagem do Alcorão se espalhasse pelo mundo. Em apenas 200 anos, a palavra de Alá e os exércitos árabes já tinham conquistado toda a península arábica, o norte da África e a Ásia Central. Em seguida, foram anexados Espanha, Portugal e grande parte da Índia. O ímpeto expansionista árabe chegou até a China. Como é que uma mensagem revelada numa caverna do deserto de repente conquistou os espíritos de meio mundo civilizado?
Bem, há várias respostas. Uma delas é a já citada semelhança entre o Islamismo e as outras duas religiões monoteístas. Para um judeu ou um cristão, a nova fé parecia familiar, embora o uso de nomes conhecidos e sagrados em situações inusitadas pudesse parecer heresia. O Alcorão diz, por exemplo, que Jesus não foi crucificado, mas abduzido por Alá e elevado aos céus. Quem acabou na cruz foi Judas, transformado, como punição, em sósia de Cristo.
O Alcorão não obriga à conversão e, ao menos nos primeiros séculos da nova fé, a tolerância religiosa era a regra – muito mais do que em terras cristãs. Tanto é verdade que, nas regiões que administravam, os muçulmanos eram absoluta minoria até o século XI. Essa tolerância está expressa no texto sagrado: “Não disputeis com os adeptos do Livro senão da mais pacifíca maneira”. Os “adeptos do Livro” são os cristãos e os judeus. “Nosso Deus e o vosso são Um e a Ele nos submeteremos”, prossegue o Alcorão, deixando claro que respeita e aceita as outras duas crenças que adoram o mesmo Deus, seja chamando-o de Alá ou Jeová.
Mas havia formas sutis de incentivar o ingresso de novos fiéis. Para começar, viver em um Estado com leis regidas por uma fé alheia não era muito confortável, por mais que houvesse respeito. Além disso, os muçulmanos tinham privilégios: eram isentos de certos impostos e tinham muito mais chances de subir na vida e trabalhar no governo. Para completar, a conversão era moleza – bastava reconhecer em voz alta, perante testemunhas, e em árabe, que só existe um Deus e que seu profeta é Maomé. Pronto. Um muçulmano a mais.
Nos primeiros séculos, o império era administrado por um homem só – um califa sediado primeiro em Medina (na Arábia Saudita), depois em Damasco (na Síria) e depois em Bagdá (no Iraque). Mais tarde, o poder se fragmentou, com vários califas simultâneos. Mas não importava quantos eram os governantes, nem as diferenças entre suas decisões, seguindo uma ou outra escola de interpretação do livro sagrado. Viajantes que cruzaram o império de ponta a ponta relataram uma sensação de que o mundo muçulmano era um só. Em toda parte valiam os cinco pilares da religião: aceitar que há só um Deus e que seu profeta é Maomé; rezar cinco vezes por dia voltado para a Meca; ajudar os pobres; jejuar no mês sagrado do Ramadan; e peregrinar até a Meca uma vez na vida. Mais que isso: um livro guiava todos, o Alcorão.
Maomé havia dito que “aquele que sai de casa em busca do conhecimento está trilhando o caminho de Deus”. O profeta afirmou também que isso vale para homens e mulheres (em clara discordância com o regime de países como o Irã e o Afeganistão de hoje, que negam às mulheres o acesso ao estudo). Dentro desse espírito, nascia, no século X, a Universidade Azhar, do Cairo, a primeira do mundo, que atraía muçulmanos de toda parte. O conhecimento prosperava. Os muçulmanos formavam a vanguarda na matemática, na astronomia, na medicina e na química.
Filósofos gregos, inteiramente esquecidos pela Europa medieval, eram traduzidos para o árabe – o racionalismo de Aristóteles, em especial, gozava de muita popularidade. Inspirado por ele, o filósofo persa Avicena defendia a idéia espantosamente moderna de que a razão humana podia levar a uma verdade demonstrável e tentou analisar o Alcorão à luz da lógica. Para ele, a iluminação do profeta não era divina, mas intelectual (séculos depois, ainda queimava-se gente por muito menos no mundo cristão). Não havia cidade na Europa que se comparasse aos centros islâmicos. Só o Cairo abrigava população correspondente à das três maiores cidades cristãs, juntas: Paris, Veneza e Florença. O império islâmico vivia seu auge. O mundo era deles.
Nesse momento, os árabes sofreram uma agressão inesperada bem pertinho do seu coração. Em 1095, o papa Urbano II ordenou, de Roma, um ataque para tomar Jerusalém. Começavam as Cruzadas, que duraram 200 anos. A cristandade não tem muito do que se orgulhar desse episódio – propiciou cenas pavorosas, inclusive massacres de civis – e acabou perdendo a guerra e a Terra Santa. Mas, embora ninguém suspeitasse disso naquela época, começava ali a decadência do Islã. “O efeito psicológico foi muito forte. A luta estimulou o fechamento mental religioso”, afirma Demand.
As invasões geraram um fenômeno que jamais tinha existido antes: uma sensação de confronto entre a cristandade e o Islã. Os cristãos passaram a demonizar Maomé e sua fé. Karen Armstrong conta, em seu livro Muhammad (sem versão em português), que as ofensas ao profeta viraram regra na Europa do século XI. A propaganda antiislâmica incluía chamar Maomé de pervertido sexual, charlatão e insinuar que ele fosse o diabo em pessoa.
Na mesma época, muitos muçulmanos adquiriram um profundo ressentimento pelo Ocidente, atribuindo a ele toda a culpa pelo fim dos tempos gloriosos do Império Árabe – um sentimento que chegou até os nossos dias. Algo mudara no mundo islâmico. “Ele tornou-se friorento, defensivo, intolerante, estéril”, afirma o historiador libanês Amin Maalouf, no ótimo livro As Cruzadas Vistas pelos Árabes. O Alcorão continuou o mesmo, mas passou a ser interpretado com mais rigidez.
Já era esse o clima quando a dinastia fundada pelo sultão Osman tomou a cidade cristã de Constantinopla, antiga capital do Império Bizantino, e a rebatizou de Istambul. Nascia ali, em 1453, o Império Otomano (referência ao próprio Osman), que, em algumas décadas, tomou quase todas as terras do antigo Império Árabe. Osman era de etnia turca, um povo com fama de mau que se converteu ao Islamismo no século VIII. Os turcos entraram no mundo árabe como soldados e galgaram o comando do exército. Agora viravam sultões (em turco, “detentores do poder”. Osman não ousou tomar para si o título de califa, reservado a descendentes do profeta). A partir daí, cabia a eles zelar pelo povo que seguia o Alcorão.
No entanto, o mundo havia mudado. Militarmente, o Islã continuava sendo uma potência. Mas a vanguarda do planeta não estava mais ali. O centro estava mudando para oeste – a Europa. Lá, uma série de guerras religiosas detonou revoluções ideológicas que soltaram as rédeas do pensamento e rebocaram a sociedade para uma época de desenvolvimento: o Renascimento e o Iluminismo. Impulsionados pela filosofia e pela ciência, inclusive aquelas trazidas das terras árabes, os europeus decidiram limitar o poder religioso sobre os assuntos terrenos. O primeiro passo foi cortar alguns poderes do rei, considerado antes uma figura divina. Ato contínuo, cortaram também a cabeça de alguns monarcas. Liberalismo político e econômico logo transformaram os países do Ocidente em potências laicas.
No Islamismo, ao contrário, as luzes jamais voltaram a brilhar como antes do recrudescimento religioso decorrente das Cruzadas. Religião e política não se divorciaram. O historiador Alberto Ventura, do Instituto Universitário Oriental, de Nápoles, Itália, sugere, em um artigo, que esse pensamento de laicização do Estado e da ciência não prosperou no Oriente justamente porque a fé islâmica procurou conciliar o raciocínio. “Os textos sagrados do Islamismo nunca entraram em incurável conflito com a observação racional das coisas.” Para Ventura, os muçulmanos interpretam o Alcorão de um modo intermediário: nem o levam ao pé-da-letra nem o transformam em uma alegoria. “O esforço por harmonizar os dois lados não permitiu uma separação clara entre as esferas da religião e do conhecimento. Na cultura cristã, elas entraram em antagonismo e cristalizaram suas identidades.” Cada uma no seu terreno.
O progresso europeu engoliu o Império Otomano. Primeiro, economicamente; depois, militarmente. A partir da metade do século XIX, quase todos os países islâmicos foram dominados e ocupados pelas potências européias – a Itália ocupou a Líbia, a Inglaterra ficou com o Egito, a França levou a Argélia etc. A modernidade ocidental caiu como uma bomba sobre o Islã. A nova ordem enfraqueceu as alianças tradicionais, a educação islâmica já não garantia emprego no governo, os diplomados não controlavam mais o sistema judicial, as forças policiais sufocavam qualquer tentativa de revolta.
Pouco a pouco, a absorção dos valores ocidentais tornou-se uma condição de sobrevivência no mundo islâmico. Entre os intelectuais islâmicos, ficou clara a idéia de que o caminho do progresso era a reforma do Estado, com tudo o que isso implica: fazer eleições e criar leis que abrissem as portas do mundo moderno. Mas essas mudanças seriam um abandono das regras teocráticas do Alcorão – e sem elas não havia Estado, porque a religião é que dava identidade à população. A idéia de nação ainda era alienígena naquela parte do mundo. A maioria do povo não se sentia tunisiana, egípcia ou líbia, mas muçulmana. Sem esse elo, sobravam alguns vínculos tribais e culturais. Só.
Começaram a surgir tentativas, em vários países, de criar governos democráticos baseados nos princípios do Alcorão. Todas fracassaram, muitas vezes por causa da enorme ingerência das potências européias. “No Egito, entre 1922 e 1948, houve 17 eleições, todas vencidas pelo partido populista, mas só cinco conseguiram governar, porque a Inglaterra intervinha sempre que o resultado não era o desejado”, afirmou a teóloga Karen Armstrong, em entrevista à revista eletrônica Salon. Os governos ditos democráticos tinham regras rígidas também para regular o dia-a-dia dos cidadãos. Na Turquia, o governo fechou as escolas religiosas e proibiu as mulheres de sair com véus. “Muitas deixaram de sair de casa por vergonha”, diz Eliane. No Irã, o xá Reza Pahlevi deu ordens à sua guarda para atirar em manifestantes que protestavam contra o uso obrigatório de roupa ocidental. Muito propagandeados pelos governos da época, alguns valores ocidentais, como a democracia, ganharam uma péssima fama entre os muçulmanos.
A gota d’água no sentimento de fracasso dos muçulmanos diante do Ocidente ocorreu com a humilhante derrota para Israel, em 1967. “Depois do florescimento, a derrota causa uma sensação de que se tomou o caminho errado”, diz o egípcio Mohamed Habib, coordenador de Relações Institucionais e Internacionais da Unicamp.
Adivinha onde os muçulmanos foram procurar as respostas para essas seguidas derrotas? Lá mesmo, no Alcorão. “É aí que surgem os movimentos de resgate das raízes, dos fundamentos da religião”, diz Demant. São os fundamentalistas.
A situação era propícia a interpretações literais. Primeiro, porque não há sacerdotes no Islamismo: cada um ora diretamente a Deus, sem intermediários. A herança de séculos de interpretações harmoniosas e tolerantes do Islã é transmitida à população pelos ulemás, os estudiosos da doutrina. Só que, a partir da ocupação dos países islâmicos, no século XIX, os ulemás se distanciaram do povo. Quando os inconformados foram buscar conforto no livro sagrado, o fizeram sem orientação ou, pior, sob a tutela de outros fundamentalistas – como o Taleban, que mantém escolas para difundir sua leitura do Alcorão aos desvalidos.
A interpretação peculiar desses fundamentalistas ignora os comandos explícitos de respeitar as outras “religiões do Livro” (americanos e israelenses são associados aos “idólatras” inimigos de Maomé do século VII), passam por cima da proibição de matar inocentes (com a desculpa de que todo ocidental é inimigo e, portanto, não há inocentes entre eles) e pinça no texto apenas os trechos mais sanguinolentos. Seu discurso está cheio de ressentimento – há quem chame Israel de um “Estado cruzado”, numa extemporânea referência a uma guerra terminada há sete séculos, mas que não acabou de ser digerida. Os fundamentalistas são ínfima minoria no Islã, mas, com ações de grande repercussão, acertam em cheio os corações de milhares de muçulmanos com baixa auto-estima – a causa antiocidental resgata a tão machucada identidade islâmica.
Mas há também fundamentalistas islâmicos pacifistas e eles são a maioria, segundo Karen Armstrong. “Esses grupos”, diz ela, “buscam nas palavras de Maomé o espírito de paz e justiça social” – aquele mesmo que ajudou um povo miserável e disperso do deserto a erguer um dos mais iluminados impérios da história. Está tudo no livro.