Das telas às galerias de arte, dos torneios esportivos aos romances, passando pela religião, as mulheres deste capítulo deixaram suas marcas em diferentes aspectos da cultura. Sua genialidade criativa, sua arte e seus exemplos ajudaram a mudar o nosso cotidiano: do jeito de se vestir até uma forma menos machista de ver o mundo.
Edição: Sílvia Lisboa | Textos: Juan Ortiz, Maurício Brum, Pedro Nakamura e Stéfani Fontanive |
Edição de Arte: Estúdio Nono | Design: Andy Faria | Ilustrações: Débora Islas e Cristina Kashima
Em 14 de junho de 1972, um voo da Japan Airlines caiu nas proximidades do aeroporto de Nova Délhi, na Índia, matando 82 pessoas a bordo e quatro no solo.

Até hoje, as causas do acidente não foram totalmente esclarecidas, e não se sabe se o erro partiu do piloto ou da torre de controle – aparentemente, não houve falha mecânica.
Acidentes aéreos sempre têm repercussão internacional, mas, do outro lado do mundo, aquele foi ainda mais noticiado do que o normal para tragédias do tipo: o Brasil havia acabado de perder uma de suas atrizes mais conhecidas – certamente a mais polêmica. Isso porque Leila Diniz tinha 27 anos e voltava de uma viagem à Austrália, em uma das várias escalas do longo trajeto até o Rio de Janeiro.
A morte precoce a eternizou em sua juventude, como uma das artistas mais marcantes da sua geração. Naquele momento, a estrela das novelas globais e do cinema nacional já havia se tornado um símbolo da revolução sexual e da libertação feminina – um movimento que vinha ganhando corpo na Europa e nos EUA principalmente a partir de 1968, mas que no Brasil ainda era restrito. O país vivia a fase mais repressiva da ditadura, que se manifestava não só nas perseguições políticas, mas também nos costumes.
“Posso gostar de um homem e ir para cama com outro”, havia dito em uma entrevista poucos anos antes, ao jornal satírico O Pasquim. “Casos mil. Casadinha nunca. Na minha caminha dorme algumas noites, mais nada”, arrematava, considerando absurda a norma social segundo a qual mulheres deveriam casar virgens. “Pense bem: a mulher tem data marcada para perder a virgindade”, indignava-se.
A entrevista causou tamanho furor que, logo após a publicação, o governo militar endureceu a censura prévia, com o Decreto-Lei 1.077, de janeiro de 1970. Apelidado de “Decreto Leila Diniz”, embasava a necessidade de vetar a divulgação de publicações que “estimulam a licença, insinuam o amor livre e ameaçam destruir os valores morais da sociedade”.
Em um país dominado por um governo conservador e aferrado à religiosidade, suas opiniões escandalizavam gente por todos os lados. A direita considerava um absurdo que a voz de Leila repercutisse, a esquerda a enxergava como um desvio dos problemas reais – a brutal perseguição política – e até algumas feministas da época a consideravam exagerada, com opiniões que poderiam ser vistas como vulgares e não contribuir à causa.
Mas nenhuma crítica a impediu de seguir defendendo que as mulheres pudessem escolher o que faziam com o próprio corpo, como exercer sua sexualidade – porque ninguém precisa prestar contas a ninguém.
![]()
Ela nasceu em Portugal, mas desde os dez meses de idade viveu no Brasil, e nunca gostou que lembrassem que não era daqui.

De fato, fazia tanta questão de ser brasileira que, quando a anunciavam como artista “sul-americana” ou “latino-americana”, o que não deixava de ser verdade, apressava-se por explicar as minúcias que tornavam a cultura brasileira única. Com 1,52m de altura, ganhou o apelido de Pequena Notável, e ajudou a projetar seu país de adoção para o mundo – bem como alguns estereótipos a seu respeito.
Carmen cresceu no Rio, estudou moda e chegou a trabalhar em uma confecção de chapéus. Após aprender a costurar, apaixonou-se pelos turbantes, que transformou em parte indissociável da sua imagem – no seu caso, cobertos por frutas tropicais. Passava suas horas livres cantando e dançando e juntava algum dinheiro animando festas, até receber propostas para atuar profissionalmente. Começou em rádios, depois teatros e cassinos (que, na época, ainda funcionavam no Brasil), e saiu em sua primeira turnê internacional, por Buenos Aires.
Seu sucesso foi estrondoso. A tal ponto que, em 1939, dez anos depois de assinar seu primeiro contrato, chegava à Broadway e a Hollywood. Em uma época em que o cinema começava a explorar a sexualização das estrelas femininas, como ocorreu com Marilyn Monroe, Carmen Miranda não chegava a se enquadrar nos padrões de beleza. O interesse era causado pelo exotismo das suas vestes, danças e o samba que acompanhava seus movimentos.
Em 1940, apresentou-se na Casa Branca, a convite do presidente Franklin Roosevelt. A aproximação fazia parte da “política de boa vizinhança”, com a qual os EUA procuravam manter aliados no continente durante a 2ª Guerra.
Carmen Miranda gravou 14 filmes em Hollywood e inaugurou o interesse norte-americano pela cultura latina, que tomaria uma fatia cada vez maior do mercado nas décadas seguintes. Tornou-se, ainda, a primeira sul-americana a ganhar uma estrela na Calçada da Fama. Mas as mesmas razões para o seu sucesso seriam o motivo de suas frustrações no fim da vida: Carmen nunca escapou do estereótipo “brasileiro” que havia criado para si, o que a impediu de realizar os projetos artísticos mais ambiciosos com que sonhava. Seus contratos não davam liberdade para fugir da personagem habitual.
Em seus anos finais, passou a abusar de álcool e medicamentos, uma combinação que se revelaria fatal: aos 46 anos, no intervalo de uma gravação para a TV em Beverly Hills, um infarto interrompeu a trajetória da primeira artista que o Brasil exportou para as telas estrangeiras.
![]()
Um vestido longo preto, um colar de pérolas, uma luva, um coque com uma tiara brilhante e uma piteira.

Você pode não conhecer a atriz, ou nunca ter visto o filme Bonequinha de Luxo, mas já deve ter visto a imagem da jovem moça com seu café na mão em frente à Tiffany, uma famosa joalheria de Nova York. Audrey Hepburn entrou no imaginário por seus filmes românticos e por ser um ícone da moda. Mas sua importância vai muito além disso.
Filha da baronesa Van Heemstra e de um negociante, Audrey dividiu sua infância em diferentes países pelo trabalho de seu pai: Bélgica, seu país natal (embora tivesse nacionalidade britânica), Inglaterra, França e Holanda. Por conta disso, ainda criança já dominava vários idiomas: inglês, francês, holandês e flamengo, um dialeto da Holanda. Mais tarde, incluiu italiano e espanhol na lista.
Teve uma infância abastada, até completar 11 anos, quando a Holanda foi tomada pelo exército nazista. As posses da família foram confiscadas pelo novo governo. Seu irmão mais velho teve que se esconder, e o mais novo foi trabalhar forçadamente em uma empresa. A comida passou a ser racionada. Audrey ficou desnutrida e doente. Mesmo assim, auxiliou na resistência como um pombo-correio: levava e buscava documentos de grupos contrários a Hitler e informações sobre sobreviventes. A cidade em que morava foi bombardeada e ela presenciou o que chamou de miséria humana: corpos sem vida e prédios destruídos por toda a cidade.
A Holanda só se viu livre dos nazistas quando Audrey já tinha 16 anos. Fraca e precisando de medicamentos, foi auxiliada pela Cruz Vermelha. Nunca esqueceu essa ajuda. Mas os traumas da guerra a acompanharam para sempre. Sua magreza fora dos padrões hollywoodianos foi consequência dos anos vivendo com comida racionada.
Começou como atriz aos 20 anos, em um filme de baixo orçamento chamado O Holandês em Sete Lições. Mudou-se para Londres e participou de musicais para ganhar dinheiro. Audrey amou o palco. Teve pequenos papéis em filmes ingleses até sua grande oportunidade aparecer: A Princesa e o Plebeu. Sua primeira protagonista e seu primeiro Oscar.
Seus filmes de romance, parecendo contos de fadas, conquistaram a bilheteria – e o coração dos espectadores. Mas seu grande sonho era ser mãe. Aposentou-se em 1967 para cuidar de seus dois filhos.
Voltou a atuar dez anos depois. Seu último filme foi Além da Eternidade, em 1988. Mas o grande papel em sua carreira ficou para o final, quando se tornou embaixadora especial da Unicef e viajou por todo o mundo auxiliando crianças. Morreu de câncer aos 63 anos.
![]()
No fim da década de 1950, a Nouvelle Vague surgiu como um importante movimento cinematográfico europeu em reação às superproduções de Hollywood: seus filmes tinham baixo orçamento, filmagens nas ruas, levando temas do cotidiano e tabus às telas.

O período teve grandes nomes, como Godard e Truffaut, e inspirou tantos outros. Mas uma cineasta, considerada a matriarca do período, é constantemente esquecida. Seu nome é Agnès Varda.
Varda nasceu em Bruxelas, mas se radicou na França. Começou como fotógrafa, mas logo passou ao cinema. Seu primeiro filme foi La Pointe-Courte, de 1954, mas seu maior sucesso foi Cléo das 5 às 7, em que acompanha a vida de uma famosa cantora por uma hora e meia.
Em 60 anos de carreira, fez mais de 50 filmes com as mais variadas temáticas, do racismo ao direito das mulheres. Em Uma Canta, a Outra Não, trata de aborto, maternidade, direitos e união feminina. Produziu também um curta sobre o movimento Panteras Negras. Agnès se denominava feminista e de esquerda, mas dizia nunca ter feito filmes políticos, apenas se mantinha “ao lado dos trabalhadores e das mulheres”. Era uma mulher franzina, e dizia “se encaixar” em qualquer lugar para filmar suas obras.
Foi a primeira mulher a ganhar um Oscar pelo conjunto da obra e única mulher homenageada com a Palma de Ouro, ambos prêmios honorários. Em seu último ano de vida, lançou Varda por Agnès, seu legado final, recordando a história de sua vida e seus filmes.
![]()
Gabrielle Bonheur Chanel queria ser uma artista. Começou a se apresentar no café parisiense La Rotonde, sempre com a mesma música: “Qui qu’a vu Coco” (Quem foi que viu Coco).

O público, então, começou a chamá-la de Coco – nome que ficaria conhecido não pelas habilidades em canto, mas por revolucionar o modo como as mulheres se vestiam. Se hoje você usa calça e saia curta e não longos vestidos bufantes, agradeça a Coco Chanel.
Criativa, Chanel modernizou o guarda-roupa feminino com peças até então consideradas masculinas: popularizou o uso de calças e criou o tailleur, o paletó feminino. Também causou furor ao diminuir o comprimento das saias. Uma das peças mais marcantes criadas por Chanel foi o vestido preto reto, que se tornaria uma peça-chave no guarda-roupa feminino. Seu estilo era simples, mas elegante, e trouxe praticidade e conforto para o cotidiano das mulheres.
O estilo Chanel de se vestir ganhou as ruas na Paris da 1a Guerra, quando a exibição de trajes luxuosos não combinava com o clima de austeridade no país.
Mas a mulher que inspirou até o nome de um corte de cabelo tem uma biografia polêmica. Chanel se aproveitou das leis antissemitas de seu país para dar um golpe no sócio judeu e tomar a empresa que comercializava seu famoso perfume, o Chanel Nº 5 – mas não deu certo: o sócio a retomaria após a guerra. Sua proximidade ao regime nazista não apagou sua importância na moda.
![]()
Desde criança, Lucila Godoy teve uma relação conturbada com a escola. Filha de costureira, tinha 3 anos quando viu seu pai abandonar a família.

Dele, herdou apenas o sobrenome e a vocação para as letras. Aos 10 anos, Lucila foi apedrejada por colegas de turma depois de ter sido acusada de roubar papel. A professora que a incriminou ainda resolveu chamá-la de “débil mental”.
As próximas humilhações vieram em 1908, ao ser barrada no curso de magistério na cidade La Serena, uma das mais antigas do Chile. Na época, ela escrevia artigos sobre diversos assuntos para jornais da região. Mas suas palavras foram consideradas “profanas” e “socialistas” demais pelos conservadores locais. Um desses textos dizia que a mulher deveria “deixar de ser mendiga de proteção” e “viver sem sacrificar sua felicidade com um dos repugnantes matrimônios modernos”. Após tornar-se professora primária (em uma instituição da capital), percorreu os povoados do interior do país aplicando e construindo um modelo pedagógico baseado no desenvolvimento e bem-estar das crianças.
Mas o legado de Lucila foi além das salas de aula. Ainda jovem, adotou o pseudônimo “Gabriela Mistral” em homenagem aos poetas Gabriele D’Annunzio e Frédéric Mistral. E foi da poesia que tirou suas obras-primas: Desolação, Sonetos da Morte, Tala e Lagar. Depois, em 1926, foi trabalhar como secretária e depois diplomata na Liga das Nações – quando a entidade acabou, assumiu cargos na ONU. Foi a primeira latino-americana a receber um Nobel, concedido por seus versos inspiradores.
![]()
Em fevereiro de 1966, a indústria musical vibrava ao ouvir James Brown repetir que este era “um mundo de homens”. Eles não esperavam uma Aretha Franklin.
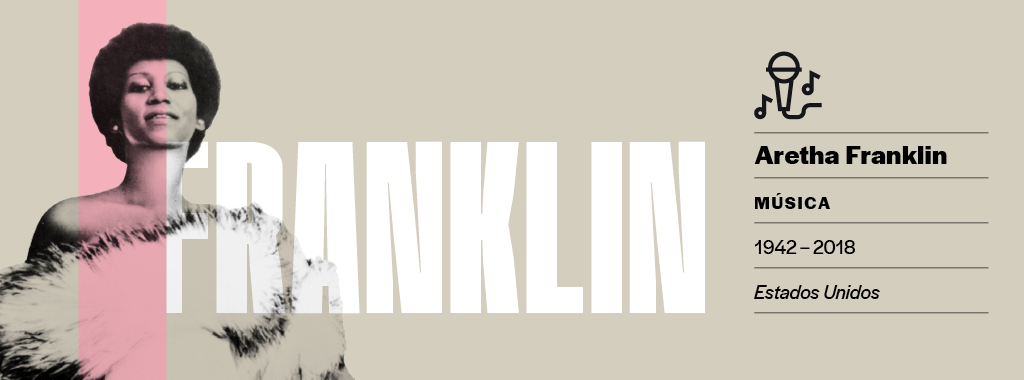
No ano seguinte, a artista de 25 anos lançou a música Do Right Woman, Do Right Man, que questionou a afirmação de Brown. “Mulheres não são brinquedos” e “mostre algum respeito por mim”, rebatiam os versos. A faixa fez parte do décimo álbum da cantora, que incluiu a icônica Respect, escrita por Otis Redding com um sentido totalmente diferente do que ficou conhecido. A letra original intimava a esposa a ser obediente e não reclamar. Aretha editou o texto, mudou o tom e transformou a música em hino contra o machismo. Com o hit, ela decolou: atingiu a primeira posição na Billboard e venceu dois prêmios Grammy – seriam 18 ao todo.
Antes de Whitney Houston e Amy Winehouse subirem nos palcos, a jovem Aretha já era a rainha do soul. Seu jeito de cantar, técnico e carregado de emoção, vinha do gospel que cantava desde pequena nos corais da igreja batista em Memphis, Estado do Tennessee. Ela largou a escola ao engravidar aos 14 anos e passou a acompanhar o pai, o reverendo C. L. Franklin, nas missões evangélicas pelo país. Pouco tempo depois, ficou grávida de novo e teve seu segundo filho aos 16 anos.
Sua fé por mudança também se estendia à luta do movimento negro pelos direitos civis. Aos 66 anos, ela cantou na cerimônia de posse de Barack Obama, o primeiro presidente afro-americano dos EUA. Foi a primeira mulher a entrar no Hall da Fama do Rock, em 1987.
![]()
Antes de completar 50 anos, Violeta Parra se suicidou. Os biógrafos divergem sobre os motivos, mas é certo que estava decepcionada.

Era fevereiro de 1967. Ela estava sozinha no local que havia erguido alguns anos antes na capital do Chile, com o objetivo de criar uma espécie de “universidade do folclore”. O governo nunca cumpriu a promessa de entregar verbas para levar o sonho adiante.
Durante anos, ela se empenhou por reunir cantores e compositores latinos para apresentarem os sons típicos de suas terras natais. As próprias canções de Violeta se tornariam famosas – às vezes, mais do que ela própria: Gracias a la Vida, presente em seu último disco, conquistaria o mundo na voz de Mercedes Sosa. O legado de Violeta, porém, foi além das letras marcantes. Suas tapeçarias bordadas, por exemplo, transformaram-na na primeira mulher latina a ter obras expostas no Museu do Louvre, em Paris.
Ainda nos anos 1930, ela foi responsável por popularizar o movimento de recuperação do folclore sul-americano, viajando a locais remotos em busca de histórias e instrumentos ancestrais dos povos indígenas. Isso ajudou a preservar uma memória cultural que vinha desde antes da colonização espanhola, e estava lentamente se perdendo com o rádio difundindo novos ritmos estrangeiros. Se você hoje conhece o som de uma flauta andina ou de um charango, é em grande parte graças a Violeta Parra e aos inúmeros folcloristas que ela inspirou continente afora.
![]()
Quem lembra da performance de Madonna vestindo um sutiã de cone pode não imaginar que ela veio de uma família religiosa e estudou em uma rígida escola católica.

Para chegar ao título de rainha do pop, Madonna Louise Ciccone teve que abandonar a faculdade de dança, mudar-se para Nova York (com US$ 35 na carteira) e trabalhar como modelo, dançarina e garçonete.
Ela despontou para a fama com “Like a Virgin”, que atingiu o primeiro lugar da Billboard em 1984, no segundo ano de carreira. Desde então, outras 11 músicas atingiram o topo da lista e ela ganhou mais de 200 prêmios.
Nos anos 1980, ganhou destaque como porta-voz da luta contra a epidemia de HIV. O ativismo de Madonna ajudou a combater o estigma em torno da doença e a transformou em ícone LGBT até hoje.
Na luta pelos direitos femininos, destacou-se por combater os tabus relacionados à liberdade sexual. Seu livro Sex, lançado em 1992, mostra imagens dela em posições sexuais e fantasias eróticas. Quando um jornalista disse achar “horrível” uma foto da cantora se masturbando, ela se manteve afiada para lidar com a repercussão: “você tem medo de uma mulher que pode se excitar sozinha?”, respondeu.
Sincera, corajosa, sem medo de se posicionar, Madonna abriu caminho para que outras mulheres na indústria da música também defendessem causas para além da arte, como Beyoncé na luta contra o racismo, e Lady Gaga, na defesa dos LGBT.
![]()
Nas antigas competições gregas, não havia mistura: em Olímpia, mulheres casadas não podiam frequentar (e muito menos participar de) competições esportivas.

As solteiras até tinham uma oportunidade, mas seu evento era diferente – enquanto os homens competiam nos jogos em homenagem a Zeus, que ficaram conhecidos como Olimpíadas, as virgens participavam de disputas em honra à deusa Hera, os Heraia.
Foi só na era moderna que mulheres passaram a competir com os homens, e isso começou apenas nos segundos Jogos Olímpicos contemporâneos, em Paris, no ano de 1900. A primeira a quebrar a antiga regra foi Hélène de Pourtalès, uma norte-americana naturalizada suíça que foi duplamente pioneira: tornou-se a primeira mulher a competir e a primeira a levar ouro nas Olimpíadas, tudo no mesmo dia.
Hélène pôde entrar antes de outras mulheres que também disputaram os Jogos de 1900 porque participou em uma categoria mista da vela: dividiu o barco com o marido, Hermann de Pourtalès, e o sobrinho dele, Bernard. O trio também ganhou uma medalha de prata na regata seguinte.
Hélène abriu as portas para as esportistas de alto nível: elas, que eram apenas 2% dos inscritos nas Olimpíadas de 1900, foram aumentando sua presença a cada edição e chegaram a 45% do total de competidores nos Jogos do Rio, em 2016.
![]()
Antes de iniciar a competição mais importante de sua vida, Aida chorava. Não de nervosa, mas por temer que seu esforço fosse em vão: sem treinamento profissional nem equipamentos adequados, ela ainda havia se machucado antes de competir.

Negra, pobre e favelada, Aida descobriu cedo o talento para o salto em altura. O pai não gostava. Após vê-la competir, deu-lhe uma surra: “pobre tem que ganhar a vida”, dizia, e o esporte não dava um tostão. Foi juntando dinheiro como faxineira que seguiu treinando, por conta própria, e assim chegou às Olimpíadas de 1964, em Tóquio. Apesar do sucesso, o apoio era quase nulo: não tinha calçados apropriados nem intérprete para entender os japoneses.
Um patrocinador dos Jogos, comovido, emprestou sapatilhas para que competisse. Aida saltou a 1,74 m de altura, e ficou a poucos centímetros do pódio. Seu quarto lugar permaneceria como a melhor performance individual de uma mulher brasileira em Olimpíadas pelos próximos 44 anos.
De volta, viu um caminhão de bombeiros pronto para celebrá-la nas ruas, mas preferiu usar a fama recém-adquirida para denunciar as péssimas condições do esporte feminino no País. Imediatamente, foi cortada das equipes olímpicas.
Seu sacrifício não foi em vão. Aida não foi a primeira mulher olímpica brasileira (o título é da nadadora Maria Lenk, em 1932), mas foi fundamental para elas ganharem visibilidade. No Rio, em 2016, as mulheres foram responsáveis por cinco medalhas do País.
![]()
Em Compton, um subúrbio de Los Angeles conhecido pela violência, a futura rainha das quadras começou a treinar em condições nada propícias.

O tênis era visto como um esporte para os ricos, longe da sua realidade, mas o pai se encantou ao ver um jogo pela TV e fez o que pôde para ensinar às filhas. Serena Jameka Williams e a irmã, Venus, treinaram desde a infância em uma quadra rodeada por brigas de gangues.
Serena logo ganhou destaque nas competições infantis e iniciou a carreira profissional aos 14 anos. Um pouco mais velha, quando ocupava a 304ª posição do ranking mundial, venceu duas adversárias que estavam no top 10, chamando a atenção para suas habilidades.
Além da destreza nas quadras, Serena é conhecida por seus posicionamentos contra o racismo e o machismo, questionando juízes e até presidentes das federações de tênis. Um de seus protestos foi jogar vestindo um tutu preto, em resposta a um dirigente que criticou a roupa usada em sua partida anterior: um macacão escolhido por ajudar na circulação sanguínea e evitar coágulos, uma necessidade após um difícil parto.
A pequena menina de Compton cresceu, treinou e triunfou: Serena acumulou quatro ouros olímpicos, dezenas de Grand Slams e liderou o ranking mundial por anos a fio. Sempre treinou junto com a irmã, Venus, e juntas conquistaram 14 Grand Slams. A dupla é sempre citada como inspiração por jovens tenistas negras, que passaram a ver o esporte como uma opção viável.
![]()
Estava na lei: até 1979, o país do futebol não permitia que mulheres praticassem o esporte.

E não era por falta de interesse – elas têm uma ligação tão antiga com o jogo que até o termo torcida vem da participação feminina nos estádios: vinha das damas cariocas que vibravam suas luvas nas arquibancadas no início do século 20.
O preconceito não é exclusividade do Brasil. Na Inglaterra, times femininos também foram banidos por décadas e foi preciso que craques como Lily Parr (1905-1978) lutassem para reviver o esporte. Por aqui, o jogo só começou a sair da clandestinidade nos anos 1980, e mesmo assim com restrições arbitrárias: Sissi, a grande craque brasileira antes de Marta, teve que abandonar a seleção no ano 2000 por usar o cabelo raspado. Ela havia sido artilheira da Copa do Mundo um ano antes.
A alagoana Marta Vieira da Silva surgiu logo após, aos 18 anos, como a grande craque da geração que levou a seleção feminina às suas primeiras finais de Olimpíadas e Copa do Mundo. Marta também se tornou a primeira jogadora a ser eleita seis vezes a melhor do mundo.
Ainda faltam investimentos, mas, desde a virada do século, o outrora proibido futebol feminino cresceu tanto no Brasil que hoje os clubes profissionais são obrigados a manter também uma equipe de mulheres – ou não podem entrar no Campeonato Brasileiro masculino. Agora é lei.
![]()
Prostituta arrependida em nome da fé, a esquecida “apóstola mulher” de Jesus Cristo ou até mesmo a sua esposa, de quem estaria grávida no momento da crucificação. As lendas em torno de Maria Madalena são diversas, vêm de séculos atrás.

Sobre ela, de fato, sabe-se pouco: grande parte de sua história é contada nos Evangelhos apócrifos, não incluídos na Bíblia e, com frequência, escritos muito depois dos dias de Jesus, refletindo disputas políticas internas da Igreja. Assim, tanto as versões favoráveis quanto negativas sobre ela acabam dependendo das intenções dos autores – e tinham a ver com a busca por legitimar um papel maior das mulheres dentro do catolicismo ou por relegá-las a um segundo plano.
Maria era “madalena”, provavelmente, por ser de Magdala, uma aldeia próxima a Cafarnaum, o quartel-general de Jesus na Galileia. É muito possível que, no mínimo, assistisse às pregações de Cristo – na Bíblia oficial, seu papel não vai além disso: uma seguidora a mais presente no momento da crucificação.
Prostituta não era mesmo, pelo menos nada há que diga isso explicitamente – foi apenas uma lenda que persistiu até os nossos dias, interpretando-a como uma das “pecadoras” que aparecem ao longo dos livros sagrados.
Nos Evangelhos apócrifos, porém, Maria de Magdala se converte em uma das figuras fundamentais do cristianismo. Aparece em igualdade de condições com os apóstolos, e teria sido a mulher mais importante na difusão da fé cristã em seus primórdios. Em um desses textos não reconhecidos pela Igreja, o Evangelho de Filipe, ela é inclusive citada como “companheira” de Jesus – mas não está claro o que se quer dizer com isso. A palavra grega koinonôs, utilizada para descrever a relação, era pouco usual para se referir a uma esposa, aproximando-se mais da ideia de pessoas que compartilham algo importante. Mas os textos não vão além disso: nada de gravidez ou uma menção clara a um casamento.
Segundo historiadores da religião, no início da era cristã era comum que as mulheres estivessem entre as pregadoras da fé. Ou seja, é provável que Maria Madalena fosse uma discípula em pé de igualdade com os apóstolos. Só que, conforme os séculos passaram, a participação feminina foi sendo reduzida na Igreja.
O ocultamento de Maria Madalena não seria para apagar o suposto romance e preservar a imagem de Jesus como livre do “pecado original”, mas para fazer os homens vencerem a queda de braço pelo poder dentro da fé. Assim, a mulher que talvez tenha sido a mais importante no início do cristianismo acabou reduzida a uma fiel lacrimejante nos pés da cruz.
![]()
Nos textos sagrados do cristianismo e do islamismo, Maria é a mulher que aparece de forma mais proeminente. Mãe de Jesus, ela é citada nos quatro Evangelhos do Novo Testamento como alguém que recebeu a missão de carregar o filho de Deus.

Sua história também aparece em textos apócrifos, aqueles não incluídos na versão oficial da Bíblia. No Islã, onde Jesus (chamado Isa) é considerado o último profeta antes de Maomé, ela é Maryam, e sua história está retratada em um dos capítulos mais longos do Corão.
Comprovar sua existência – ou as circunstâncias divinas do nascimento de Cristo – é um desafio, mas o culto à figura daquela que também ficou conhecida como Nossa Senhora permanece central para o cristianismo.
Segundo as escrituras, ela teria vivido em Nazaré, no norte da antiga Palestina, hoje uma cidade em Israel com maioria muçulmana. Pela tradição da época, ela provavelmente foi prometida em casamento a José ainda adolescente, aos 12 anos.
A maior parte dos textos envolvendo Maria, porém, faz referência a episódios relacionados ao nascimento e à morte de Jesus. Muitas lacunas e detalhes foram preenchidos posteriormente por dogmas estabelecidos em longas discussões teológicas na Igreja. Ela teria sido a responsável por incentivar o filho a realizar seu primeiro milagre: a transformação de água em vinho, em um casamento descrito no Evangelho de João.
Outro dogma se refere ao título de “Imaculada Conceição”, a ideia segundo a qual Maria estava livre de qualquer pecado desde o instante em que foi concebida por sua própria mãe – algumas correntes defendiam que ela só teria se libertado do pecado ao engravidar de Jesus. Foi apenas em 1854 que a doutrina da Imaculada Conceição foi totalmente aceita e definida, em uma bula do papa Pio 9º.
Após a ressurreição de Jesus, porém, Maria praticamente desaparece dos textos bíblicos, embora algumas interpretações garantam que seja ela a misteriosa figura feminina sem nome conhecida como a Mulher do Apocalipse. Segundo a tradição cristã, a vida da Virgem Maria não se encerrou de maneira comum: ela jamais teria experimentado a morte física, ascendendo aos céus em carne e osso.
Ao longo dos séculos e dois milênios após seu nascimento, muita gente garante que ela teria feito “aparições” ao redor do mundo. Santuários para celebrá-la estão entre os maiores de seus países – como os dedicados à Nossa Senhora de Guadalupe (México), Nossa Senhora de Fátima (Portugal) Nossa Senhora de Todos os Povos (Japão) ou, no caso brasileiro, à Nossa Senhora Aparecida.
![]()
Cerca de 40 doutores das mais diversas áreas – incluindo teologia, literatura, filosofia e matemática – estavam reunidos no palácio do governo, na Cidade do México.
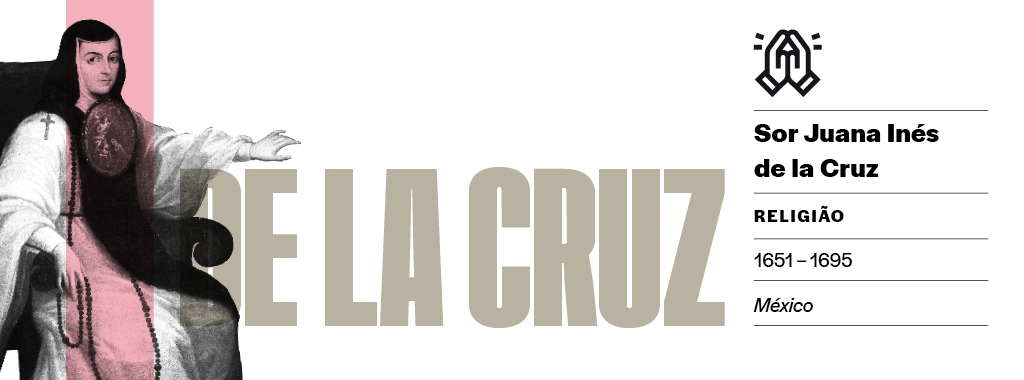
Os peritos tinham sido convocados pelo vice-rei para testar os conhecimentos da tutora de sua filha. A candidata de 15 anos respondeu com maestria ao bombardeio de perguntas perniciosas e discussões teóricas de todo tipo. Não tinha formação universitária (na época, exclusiva para homens), mas fez a corte espanhola respeitar seu nome. Foi o primeiro ato triunfal de Juana Inés de Asbaje.
Filha bastarda de mãe mexicana e nobre espanhol, Juana Inés lia desde os 3 anos. Dos índios, aprendeu a língua náuatle; e, em 20 aulas, dominou o latim. Era uma garota-prodígio, praticamente autodidata, com aptidão para as letras. Porém, no século 17, não havia muita escolha para uma boa moça nascida em terras católicas: ou casava ou ia para o convento. Ela foi pela segunda via. “Considerando a negação total que eu tinha ao matrimônio, era o menos descabido e o mais decente que poderia escolher”, disse numa de suas famosas cartas.
Em 1667, deixou o ambiente da corte para se juntar à ordem das carmelitas. Lá virou Sor (“irmã”) Juana Inés de la Cruz, título que carregou até o túmulo. Mas não aguentou por muito tempo a rigidez do mosteiro. Fugiu e entrou para o convento das jerônimas, que davam um pouco mais de liberdade às irmãs.
A relação pessoal de Sor Juana com as vice-rainhas – primeiro com Leonor de Carreto e depois com Maria Luísa Manrique, a condessa de Paredes – sempre foi nebulosa. Mesmo casada com Deus, fez versos carinhosos para ambas. À segunda, deu o codinome de “divina Lysi”. A nobre ainda foi a responsável por publicar poemas da freira reunidos no livro Inundación Castálida.
A religiosa também teve a audácia de desafiar um sermão do renomado Padre Antônio Vieira. Em uma carta disse que se Vieira discordava de Santo Agostinho, ela poderia discordar de Vieira. A teologia era então considerada a mais elevada de todas as ciências – e, claro, proibida para mulheres. Ela quase acabou na fogueira da Inquisição, e só foi poupada graças aos pareceres favoráveis de intelectuais e clérigos espanhóis – todos se curvavam à sua mente brilhante. Seus versos explicavam: os homens tolos acusam as mulheres daquilo que eles mesmos provocam.
Sor Juana passou reclusa a maior parte da vida, mas seus poemas satíricos, barrocos e feministas difundiram-se pelo império espanhol. Foi uma escritora feminista dentro da Igreja Católica em pleno século 17. Hoje, seu rosto está estampado nas cédulas de 200 pesos mexicanos.
![]()
Somente aos 46 anos, debilitada por crônicos problemas de saúde, Frida Kahlo fez sua primeira grande exposição de pinturas na capital mexicana. A ambulância chegou às 20h na Galeria de Arte Contemporânea.

Carregada de maca, a artista foi levada até uma cama de quatro colunas enfeitada com esqueletos de papel e fotos de líderes socialistas. Ela permaneceu deitada toda a exibição, das 20h até a madrugada, usando seu tradicional traje de tehuana e tranças em forma de coroa. Dezenas de amigos e admiradores fizeram fila para cumprimentá-la, formaram um círculo em volta da cama e cantaram até tarde da noite. Frida morreu um ano depois.
Assim foram os dias de Magdalena Carmén Frida Kahlo y Calderón: entre dores e festas. Com 6 anos, contraiu poliomielite, doença infecciosa que ataca o movimento dos membros inferiores. Teve que ficar deitada por nove meses, e sua perna direita atrofiou. As saias longas, uma de suas marcas registradas, serviam para esconder a deformidade. A próxima tragédia ocorreu aos 18 anos. Estava voltando de ônibus para casa, em Coyoacán, quando um bonde desenfreado colidiu contra a condução. Frida foi jogada contra a quina de um prédio e sofreu múltiplas fraturas pelo corpo. Três na coluna, 11 na perna direita e outras nas costelas, clavícula e pélvis. Ao longo da vida, passou por 32 operações. Enquanto se recuperava, dedicou seu tempo à pintura.
A artista ingressou nos círculos intelectuais e políticos de seu país. Nas reuniões do Partido Comunista do México, conheceu o pintor Diego Rivera, com quem compartilhou amores, um casamento de uma década e diversas infidelidades – a pior delas em 1934, de Rivera com a cunhada, que resultou na separação do casal. Entre 1937 e 1939, Frida hospedou em casa o líder marxista Leon Trótski, expulso da ex-União Soviética, com quem teve um breve romance. Trótski foi assassinado em 1940, e Frida entrou na lista dos suspeitos – o assassino era um agente catalão a serviço de Stálin. Frida e Diego voltaram a morar juntos, não mais como namorados, mas como parceiros de trabalho.
Os autorretratos de Frida representavam o cosmos pessoal da pintora. As obras As Duas Fridas (1939) e Coluna Partida (1944) são algumas das mais famosas. Em 2016, o quadro Dois Nus na Floresta foi arrematado por US$ 8,5 milhões, o mais caro de um pintor da América Latina. Quando um teórico surrealista disse que Frida era uma representante do movimento, ela respondeu indignada: “Nunca pintei sonhos. Eu pinto minha própria realidade.”
![]()
Púrpura, depois de 1982, deixou de ser apenas uma cor para remeter à grande obra de Alice Walker. A Cor Púrpura rendeu à autora um prêmio Pulitzer de Ficção e, em 1985, foi adaptado para o cinema – o filme recebeu 11 indicações ao Oscar.

Alice escreveu inspirada em suas vivências. Mais nova de oito irmãos, nasceu e cresceu no interior do Estado da Geórgia, sul dos EUA. Em um acidente envolvendo seu irmão e uma arma de ar comprimido, ficou cega do olho direito.
No conto Quando o meu par sou eu, em que trata da solidão da mulher negra e a capacidade de se ver bonita, ela narra essa história: quando tinha 8 anos, Alice e seus irmãos amavam filmes de faroeste, então ganharam armas de ar comprimido. Mas ela, por ser menina, não ganhou uma: era a “índia” nas brincadeiras. Certo dia, escondida no telhado com seu arco e flecha, foi atingida por um tiro no olho.
A última coisa que seu olho direito viu foi uma árvore crescendo por dentro da varanda e alcançando o teto. Foi para o hospital uma semana depois. Permaneceu com a cicatriz por seis anos, até seu irmão pagar uma cirurgia plástica. “Mas de que adianta, se meus irmãos ainda compram revólveres para seus filhos e eles próprios carregam armas?”
Devido à segregação racial da época, Alice estudou em uma escola apenas para crianças negras. Era uma das melhores alunas, e conseguiu bolsa para a universidade. Na faculdade, envolveu-se com o Movimento dos Direitos Civis, luta que acompanharia sua vida inteira.
Casou-se em 1967 com Melvyn Leventhal, um advogado de direitos civis. Ele era branco, e os dois oficializaram a união em Nova York, no primeiro ano após a liberação do casamento interracial. Mudaram-se para a cidade de Jackson, no Mississippi, sendo o primeiro casal composto por uma pessoa negra e uma pessoa branca no Estado.
Alice escreveu seu primeiro livro em 1968, chamado Once – que não foi lançado no Brasil. Foi apenas com A Cor Púrpura, publicado 14 anos depois, que suas histórias passaram a ser conhecidas. Em todas elas há um ponto em comum: a realidade da mulher negra. Suas obras tratam sobre solidão, machismo, abusos, racismo, segregação com delicadeza, mas sem esconder a dor de suas protagonistas. Por meio da ficção, Alice escancarou o racismo dos EUA.
Outras escritoras que vieram antes dela já utilizavam da ficção para discutir temas raciais, como a vencedora do Nobel de Literatura, Toni Morrison (autora de Amada e O Olho Mais Azul) e Zora Neale Hurston (Seus Olhos Viam Deus). E muitas outras escritoras vieram depois, como Chimamanda Ngozi Adiche.
![]()
“Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é, e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio; porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura; porque o seu trabalho é forçado”,

escreveu Maria Firmina dos Reis no conto A escrava, de 1887 – um ano antes da abolição formal da escravidão no País. Naquele momento, suas palavras não eram as únicas em um movimento abolicionista que crescia no Brasil, mas tinham um detalhe singular: vinham de uma mulher negra.
Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís do Maranhão em março de 1822, quando o Brasil ainda era colônia portuguesa – o grito de Dom Pedro 1º só viria seis meses depois – e, ao longo de quase um século de vida, atravessou todas as grandes transformações: primeiro do Império, depois da República. Filha de mãe branca e pai negro, ela nasceu livre, mas rodeada por dois estigmas que a acompanhariam pelo resto da vida: a cor da sua pele e o fato de ser uma criança fora do casamento.
Com acesso a uma formação rara para descendentes de africanos no Brasil, ela virou professora e escritora. Em suas obras, a identificação que sentia com os negros escravizados ao seu redor – tão similares a ela fisicamente, mas tão diferentes em sua condição de vida – acabou por transformá-la em uma voz incomum: alguém que se opunha à escravidão sem usar tratados ou panfletos políticos, mas a própria literatura.
Úrsula, seu primeiro romance, publicado em 1859, não fazia críticas tão explícitas quanto o conto A escrava – quase 30 anos mais cedo, os tempos ainda eram outros. Mas já trazia uma novidade: os personagens negros não eram um simples pano de fundo na história. Eles tinham voz, vontade, generosidade e ideias, isto é, eram descritos como seres humanos, com os quais o leitor podia se identificar, não importando a condição social ou a cor da sua pele – algo inédito para a época.
Maria Firmina era bastante conhecida nos círculos intelectuais maranhenses de seu tempo, publicando em jornais e revistas. Sua obra só ganharia destaque no restante do País no século 20, décadas após sua morte, quando foi republicada no Rio de Janeiro.
Mas a voz que deu aos escravizados em seus textos, e as críticas que fez por muitos anos, estiveram entre os documentos mais importantes da luta abolicionista no Brasil, o último país das Américas a encerrar a escravidão – uma lenta construção de muitas pessoas que acabaria por colocar na história o nome de outra mulher, a Princesa Isabel, como a responsável por assinar a Lei Áurea em 1888.
![]()
Nascida em uma família de judeus alemães, Anne Frank tinha 4 anos quando Adolf Hitler subiu ao poder.

No início, as mudanças vividas no país pareciam afetá-la menos: os Frank se mudaram para a Holanda em 1934. Mas o nazismo era igualmente popular em Amsterdã e, pouco após a guerra estourar em 1939, a Holanda foi ocupada.
As coisas seguiram piorando e, a partir de 1942, Anne e a família tiveram de passar a viver em uma peça escondida, o Anexo Secreto. Lá, ela começou a escrever seu diário, relatando o temor da época, além das descobertas e sonhos típicos de uma adolescente. O esconderijo virou sua nova casa por dois anos – até agosto de 1944, quando o anexo foi descoberto e a família, levada a campos de concentração. Presa, Anne morreria de tifo no campo de Bergen-Belsen, pouco antes da liberação pelos Aliados.
Seu pai, Otto Frank, sobreviveu – e o manuscrito, editado por ele após a guerra, acabaria se tornando uma das obras literárias mais conhecidas do século 20. Os textos ajudaram a dar um rosto humano à tragédia do Holocausto, ainda marcada pela frieza de números e estatísticas. Narrando a vida cotidiana de uma família que, tirando a religião, em tudo lembrava aquelas que não haviam sido perseguidas pelo nazismo, o Diário de Anne Frank ajudou o resto do mundo a compreender a dimensão do genocídio.
Anne tornou-se uma das vítimas mais conhecidas do nazismo. Publicado originalmente em 1947, o livro aumentou a comoção pelo extermínio judeu – um trauma tão grande que levaria à Declaração Universal dos Direitos Humanos um ano mais tarde.
![]()
Fazia calor em Baltimore, EUA. Naquela manhã de maio de 2015, a romancista Chimamanda Adichie vomitou. Era uma mistura de gravidez com notícia ruim: seu pai havia sido sequestrado na Nigéria.

Exigiram 10 milhões de nairas (em torno de R$ 120 mil) para soltá-lo, quantia prontamente paga pela família. Nos dias seguintes, o refém foi liberado. A fama da escritora tinha atraído os bandidos. E até o detetive que ajudou no caso, um agente nigero-americano do FBI, reconheceu que era seu fã.
Por duas décadas, Chimamanda vem cativando estrangeiros e conterrâneos com histórias genuinamente nigerianas. Primeiro com Hibisco Roxo, de 2003. Dois anos depois, lançou Meio Sol Amarelo, romance ambientado durante a guerra civil no país (1967-1970). A narrativa – que virou filme – é contada sob a perspectiva dos igbos, etnia da escritora e dos separatistas derrotados.
Mas foi pela oralidade que ela viralizou. Sua palestra O problema da história única, de 2009, recebeu 18 milhões de visualizações e se tornou uma das mais populares do TED Talks. “O problema com os estereótipos não é que sejam mentiras, mas é que são incompletos”, disse, referindo-se à história única da África ser uma história de catástrofes e fomes. As narrativas da escritora africana mais proeminente de sua geração vão para além desses estereótipos e ajudam a desconstruir a ideia de que há apenas um único jeito de existir na África. Dessas ideias, nasceram o romance Americanah e o ensaio Sejamos todos feministas.
![]()
Clarice Lispector detestava que a chamassem de escritora. Aliás, odiava que lhe colocassem qualquer rótulo. Judia de origem ucraniana, perdeu o nome com apenas 1 ano: a bebê Chaya Pinkhasovna foi convertida em Clarice após ela e a família desembarcarem em Maceió, em 1922.

Mas a etiqueta de estrangeira não sairia tão facilmente. Fora o sobrenome incomum, ela falava com um tipo de língua presa facilmente confundido com os sotaques europeus. Pronunciava o “r” com som de “g” antes das vogais – de modo que se apresentava como “Claguice”.
Embora fosse brasileira na prática, o certo é que via tudo à sua volta com o maior estranhamento, como uma verdadeira outsider existencialista. Adotou os pseudônimos Helen Palmer e Teresa Quadros, foi ghost-writer da atriz Ilka Soares e, quando se cansava de viver dentro de personagens humanas, provava outras criaturas. No romance Paixão Segundo G.H, exemplo notório, a protagonista entra em um estado de despersonalização ao comer uma barata morta.
Em 1939, Clarice ingressou na faculdade de Direito, embora passasse mais tempo escrevendo textos jornalísticos e literários do que se preocupando com a carreira de jurista. Em 1943, último ano de curso, publicou seu livro de estreia: Perto do Coração Selvagem. Sequer compareceu à cerimônia de formatura.
O estilo de escrita intimista da Clarice provocou o encanto e o desdém dos críticos literários. Alguns deles, como Álvaro Lins, atacavam seu “temperamento feminino”. Clarice respondeu criando as mais complexas mulheres da literatura nacional. Suas narrativas seguiam um caótico fluxo de consciência, como se fossem simplesmente expelidas. Em suas colunas, a autora não deixava que mudassem uma vírgula sequer. “A pontuação é a respiração da frase, e minha frase respira assim”, dizia. Para Clarice, a escrita era uma atividade visceral, porque servia para externar tudo aquilo que ela não conseguia guardar. E assim publicou cerca de 5 mil textos, distribuídos em colunas, trechos de ficção e crônicas.
Uma das mais importantes escritoras brasileiras tinha um segundo vício: o tabaco. Em 1966, a autora dormiu com um cigarro aceso, e seu quarto pegou fogo. Ela quase precisou amputar a mão direita.“Enquanto não escrevo, estou morta”, disse em meio a tragadas durante sua última entrevista, concedida ao programa Panorama, da TV Cultura. Oito meses depois morreu de câncer de ovário na véspera de seu 57º aniversário. Clarice seguiu ditando frases em seu leito de morte.
![]()
Em 1995, os britânicos tinham um programa semanal: assistir à minissérie Orgulho e Preconceito. A história de Elizabeth e Mr. Darcy cativou o público, atingindo mais de 11 milhões de espectadores em cada um dos seis episódios.

Mas a história do casal é mais antiga. A primeira edição do livro que inspirou a série foi lançada 182 anos antes e escrita por Jane Austen.
Jane está no cânone da literatura inglesa desde a Era Vitoriana (1837-1901) e suas obras são conhecidas ao redor no mundo, mas pouco se sabe sobre sua vida. As informações que percorreram o tempo vêm de cartas que enviava à família: era filha de um reverendo, tinha uma irmã e cinco irmãos e escrevia contos desde nova.
Nunca se casou. Chegou a aceitar uma proposta, mas o noivado durou apenas um dia, pois mudou de ideia. Dedicou a vida à escrita. Seu primeiro livro publicado foi Razão e Sensibilidade, em 1811. Assinou a obra como “A Lady”. Lançou mais cinco romances, fazendo sucesso moderado enquanto estava viva. E, apesar de não ser tão conhecida pelo público, chegou a ser lida até pela realeza. O rei George IV pediu uma dedicatória para a autora – que ela atendeu no livro Emma, mas com tom irônico. E essa ironia estaria presente em todas as suas obras.
Apesar de ser tratada como uma escritora de enredos românticos, as principais características de sua obra são o humor e a crítica social. Trazendo temas do cotidiano para as páginas, e mesclando a narração em terceira pessoa com os pensamentos internos das personagens, Jane analisava a vaidade e insensatez humana.
Embora hoje Austen seja considerada a mais famosa autora do período, ela não foi a única. Mary Wollstonecraft, sua precursora, foi a mais importante escritora do final do século 18 no Reino Unido, influenciando a prosa de uma geração de mulheres, trazendo os direitos femininos para a literatura. Foi esquecida pela história por ser considerada radical e por ter uma vida conturbada – teve uma filha ilegítima. Pela má reputação atribuída a Mary, as escritoras que a seguiram não assinavam seus livros, usando pseudônimos, para não correrem o risco de serem comparadas a ela.
A família de Austen queimou grande parte de suas cartas, vendendo a imagem de que tinha uma personalidade tímida e com “bom coração”, como diz sua lápide. Não se sabe como era a real personalidade de Jane, mas suas críticas sutis e descrições da vida comum fizeram com que a autora se destacasse. Suas histórias, mais de 200 anos após sua morte, continuam cativando o público.
![]()
Em um melancólico rio de águas escuras no interior da Inglaterra, Virginia Woolf silenciou as vozes e as dores de sua cabeça.

A escritora passou a vida com depressão, doença que, na época, não tinha tratamento e a levou a tirar a própria vida. Mas o transtorno psíquico não a impediu de criar histórias – e talvez até tenha contribuído com a inovação que Virginia Woolf trouxe à literatura: o fluxo de consciência, com pensamentos e associações não lineares. Ela criava monólogos interiores para seus personagens, que inspiraram o romance moderno.
Adeline Virginia Stephen nasceu em uma família rica. Por ser mulher, não teve educação formal e, ao contrário dos irmãos, que frequentaram a Universidade de Cambridge, foi educada em casa.
Apesar de não ir à universidade, conheceu os colegas de seu irmão por meio do “Grupo Bloomsbury”, uma união de artistas e intelectuais, que se encontravam às quintas-feiras na casa dos Stephen. Virginia apaixonou-se por uma de suas companheiras de grupo, a escritora Vita Sackeville-West, e desse romance surgiu sua obra Orlando. Foi também no grupo que ela conheceu seu marido, Leonard Woolf, de quem adotou o sobrenome.
Para conseguir escrever, ela dizia ter que matar o “anjo do lar”, aquele que diz como as mulheres devem se portar, lembra que elas não devem ter opinião e precisam cuidar da casa. Ele nunca morre de verdade. Constantemente retorna. Mas, ao apunhalá-lo, Virginia abria o caminho da escrita. No combate ao anjo, trouxe temas como sexualidade e direitos das mulheres, sendo conhecida como pioneira do feminismo.
![]()
“Hogwarts é meu lar”, diz Harry Potter – e repetem milhões de fãs pelo mundo.

A saga do menino bruxo tem uma história inspiradora por trás: a de sua criadora, Joanne Rowling, que passou de recusada por editoras a primeira pessoa a se tornar bilionária escrevendo livros.
Começou ainda na infância, com a história de um coelho chamado Coelho. Apesar do sonho de ser escritora, Joanne realizou o desejo da mãe e virou secretária. Não gostava da função, e foi na volta de uma entrevista de emprego, em uma entediante viagem de trem, que a história do bruxinho surgiu em sua cabeça. Mas a escrita levou tempo.
Sem perspectiva, mudou-se para Portugal. Lá, casou e teve a primeira filha. Mas o marido era ciumento e abusivo. Divorciou-se após dois anos e voltou à Escócia. Falida, desempregada e com uma filha pequena, dependia de auxílios governamentais. Joanne quase não tinha mais o que perder, mas tinha uma “velha máquina de escrever e uma grande ideia na cabeça”.
Ela escrevia enquanto a filha dormia. Ao finalizar, outra luta: quem publicaria um livro infantil com mais de 200 páginas? Até o nome teve que mudar: inseriu Kathleen, nome da avó, para poder abreviar seu nome para J.K. Um disfarce: seu editor disse que meninos nunca leriam algo escrito por uma mulher.
Ele estava errado: os meninos leram, e as meninas também. Harry Potter virou a saga mais lucrativa da história e Jo tornou-se bilionária. Hogwarts virou o lar de uma geração de leitores.



