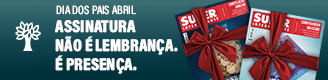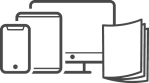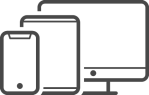Durante séculos, elas não tiveram direito à educação formal e aos estudos, mas isso não as impediu. Da filosofia aos laboratórios, de jaleco ou traje espacial, plantando árvores ou pilotando aviões, conheça as mulheres que contribuíram para o avanço do conhecimento – em todos os sentidos.
Edição: Sílvia Lisboa | Textos: Juan Ortiz, Maurício Brum, Pedro Nakamura e Stéfani Fontanive |
Edição de Arte: Estúdio Nono | Design: Andy Faria | Ilustrações: Débora Islas e Cristina Kashima
A programação de computadores é vista como uma área majoritariamente masculina, mas sua criadora foi uma mulher.

Filha da baronesa Anne Isabella Mibankle, conhecida como “princesa dos paralelogramas” por causa de sua paixão por polígonos, e do principal nome do romantismo do século 19, Lord Byron, Augusta Ada Byron uniu a paixão de seus dois pais: a ciência e a poesia.
Foi criada apenas pela mãe, após uma separação tumultuosa. Anne queria que a filha ficasse o mais longe possível do estilo de vida boêmio do pai, por isso a incentivou a estudar matemática, uma área incomum para as mulheres da época. Aos 12 anos, a menina ficou obcecada com a ideia de voar. Estudou a anatomia dos pássaros para determinar o equilíbrio entre o tamanho das asas e o peso do corpo, e escreveu seu primeiro livro, Flyology, em que detalhou projetos para a construção de um aparelho de voo.
Já aos 17, encantou-se com a invenção do matemático inglês Charles Babbage: a máquina analítica (uma espécie de avô do computador) que servia para fazer cálculos. Queria ser sua aluna e enviou várias cartas com esse pedido, sendo constantemente rejeitada. Até que ela traduziu para o inglês um artigo publicado pelo cientista em uma revista suíça, fazendo apontamentos e adicionando notas de rodapé. O trabalho impressionou Charles, que aceitou pesquisar em conjunto.
Ada também amava poesia. Ela via beleza na lógica e na matemática, que chamava de “ciência poética”. Com essa forma de olhar para as máquinas, ela expandiu o potencial da criação de Babbage. Ela percebeu, teoricamente, que a máquina poderia ser programada e reprogramada para desempenhar várias tarefas além dos cálculos previstos no projeto inicial, como resolver questões de lógica, interpretar palavras etc. Assim, criou algoritmos que seriam base para os programas de computadores, que adicionam uma camada de abstração às máquinas. Sua invenção daria origem aos computadores anos mais tarde. Em suas notas trouxe um questionamento: as máquinas pensam? Já imaginava a ideia de inteligência artificial.
Apesar de ser a primeira pessoa a conceber um programa, por muito tempo Ada não teve reconhecimento, e estudiosos até questionavam se ela o havia escrito. Mais de cem anos após sua morte, seu nome voltou a ser foco quando o pai da computação, Alan Turing, usou seus escritos para construir o primeiro computador, dando a devida importância para a cientista. Ada Lovelace – o sobrenome é do marido, Conde de Lovelace – morreu aos 36 anos, mesma idade de Lord Byron ao falecer. Apesar de nunca terem convivido, pediu para ser enterrada ao seu lado.
![]()
Durante anos, a existência de buracos negros era apenas uma teoria. Uma esfera criada por uma alta concentração de matéria, em cujo interior não há espaço ou tempo.

Mas um projeto com vários grupos de cientistas, um deles coordenado por Katie Bouman, de apenas 29 anos, conseguiu a comprovação em 2019: a primeira imagem de um buraco negro.
Graduada em engenharia elétrica pela Universidade de Michigan, Katie concluiu o mestrado e o doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology. Nesse período, juntou-se ao projeto Telescópio Event Horizon e, aos 27, criou a base do algoritmo que possibilitou a imagem do buraco negro, trazendo mais uma prova da teoria da relatividade de Einstein.
Para se obter a imagem, oito radiotelescópios apontaram para o mesmo lugar ao mesmo tempo, funcionando como um único telescópio gigantesco, produzindo uma quantidade enorme de dados. É como se cada um deles fosse uma parte da foto. Só faltava algo que juntasse todas as partes. O grupo liderado por Katie Bouman criou um algoritmo que tornou a façanha possível.
Mesmo com a sua contribuição e a de outras mulheres cientistas, no anúncio oficial da imagem só havia homens no palco. Mas a contribuição de Katie foi reconhecida e até ganhou um apelido, a “moça do buraco negro”. Para ela, significou alcançar seu objetivo: “tornar possível observar fenômenos antes difíceis ou mesmo impossíveis”.
![]()
Na Universidade de Harvard, entre 1885 e 1927, um professor iniciou um grupo de pesquisa para coletar informações sobre as estrelas. Era o “harém de Pickering”.

O apelido pejorativo surgiu por um motivo simples: eram várias mulheres trabalhando para um homem, o astrônomo Edward Pickering. A escolha por elas foi econômica: o salário era inferior ao que se pagaria para um homem – mesmo que entre o grupo estivesse Annie Jump Cannon, graduada em física e astronomia.
Mas a história de Annie, a mais famosa das “computadoras de Harvard” (a alcunha mais respeitosa do grupo), não começa na pesquisa – e nem foi comum. A mãe a incentivava desde criança a estudar e a ensinou não apenas a olhar, mas a entender o céu. Na universidade, Annie focou-se no estudo do cosmos.
Ela ficou surda após contrair escarlatina na Europa, mas não deixou que a adversidade prejudicasse sua carreira. No observatório de Harvard, percebeu que o sistema de catalogação de estrelas usado na época ignorava algumas características dos corpos celestes. Ela então criou seu próprio método, a partir da temperatura dos astros. Usado até hoje, o sistema não leva seu nome: é a “Classificação Espectral de Harvard”.
Apesar de ficar muito tempo no ostracismo, Cannon obteve reconhecimento em 1925. Aos 62 anos, tornou-se a primeira mulher a receber um doutorado honoris causa em Oxford, Inglaterra.
![]()
Primeira mulher a ser incluída no Livro de Heróis da Pátria do Brasil, editado pelo Congresso Nacional, Anna Justina Ferreira Nery é considerada a pioneira da enfermagem no País devido às suas contribuições para a área durante a Guerra do Paraguai.

Viúva rica e estudada, Anna decidiu ir para o front após seus filhos serem convocados pelo Exército. Preocupada com o sofrimento de combatentes como eles, a baiana se voluntariou para a guerra em 1865. Em meio aos cinco anos de atuação, fundou uma enfermaria-modelo com recursos próprios em Assunção, no Paraguai, que seu filho Justiniano morreu defendendo de um ataque inimigo.
Da mesma forma que Florence Nightingale (1820-1910), britânica que serviu como enfermeira na Guerra da Crimeia dez anos antes e é considerada a fundadora da enfermagem moderna, a brasileira se preocupava com as condições sanitárias: o primeiro passo para evitar que as doenças se alastrassem e que os soldados tivessem infecções ainda piores era manter a higiene no local onde os feridos ficavam.
Sem fazer distinção, Anna cuidou de soldados do próprio país e também de inimigos. No fim da guerra, foi condecorada por Dom Pedro 20 e saudada em poemas como a “mãe dos brasileiros”. Apesar de ter se tornado a mais famosa, não foi a única mulher a atuar como enfermeira na guerra, mas sua condição social e o fato de ter se voluntariado renderam-lhe um destaque maior. Hoje, é considerada a Patrona da Enfermagem Brasileira.
![]()
Com 16 anos, Dorothy ganhou dos pais um livro de ciências. Uma das únicas moças autorizadas a estudar química em seu colégio, a jovem achou na obra seu futuro tema de pesquisa.

Ao ler sobre como feixes de raios X podem mapear átomos e moléculas de cristais, sentiu-se instigada. Anos depois, a cientista ganharia um Nobel de Química ao revolucionar o método, chamado cristalografia de raios X.
Laureada em 1964 – ela foi indicada mais de uma vez –, Dorothy aperfeiçoou a técnica e conseguiu com ela decifrar as estruturas moleculares dos compostos vitamina B12, penicilina e insulina. Ao desvendar essas estruturas, Hodgkin permitiu a compreensão do impacto e da função desses compostos no organismo – e abriu as portas para a criação de novas aplicações e medicamentos.
Tudo isso enquanto batalhava contra uma doença crônica. Aos 28 anos, Hodgkin desenvolveu artrite reumática, o que inchou e deformou suas mãos e pés, mas nunca a impediu de realizar trabalhos manuais nos laboratórios ou militar pelo progresso da ciência mundo afora.
Dorothy acreditava que a ciência tinha uma função social e foi uma defensora do desenvolvimento científico em países menos desenvolvidos e sobretudo comunistas. Ela chegou a jantar na presença de Mao Tsé-Tung e Ho Chi Minh e, em 1987, recebeu o prêmio Lênin da Paz.
![]()
Muitas vezes, as biografias das pioneiras da ciência costumam incluir trechos que deixam o leitor revoltado: são inúmeras as histórias de grandes mulheres cujas descobertas foram apagadas na época em que viveram ou, pior, atribuídas a homens que trabalhavam com elas.

Reconhecimento, com frequência, só vinha anos após a morte. Não é o caso de Marie Curie, cujos feitos lhe renderam fama desde cedo e a transformaram na primeira mulher a vencer um Prêmio Nobel – algo que ela faria duas vezes.
Seu nome de batismo era Maria Sklodowska, nascida em solo polonês quando o país ainda era parte do Império Russo. Seus pais, professores que defendiam a independência, não eram bem vistos pelo regime. Ela estudou em Varsóvia, na chamada “Universidade Flutuante”, uma instituição clandestina em que poloneses davam aulas a seus compatriotas sem seguir o currículo oficial. Para ganhar a vida, trabalhava como governanta.
Em 1891, ainda em dificuldades financeiras, Marie e a irmã partiram a Paris em busca de uma formação acadêmica – química, física e matemática eram seus focos de interesse. Na França, Maria virou Marie, e alguns anos mais tarde Sklodowska também saiu de cena, com um novo sobrenome adotado após o casamento com o físico Pierre Curie. Juntos, eles estudariam a recém-descoberta radioatividade, o que lhes renderia um Nobel de Física em parceria com Henri Becquerel em 1903.
Naquele mesmo ano, obteve seu doutorado na Universidade de Paris, da qual também foi a primeira professora mulher.
Após a morte de Pierre, Marie seguiu com suas pesquisas, o que lhe rendeu um segundo Nobel, agora em química. Até hoje, ela é a única pessoa a vencer o prêmio em duas áreas científicas diferentes. Fascinada pelas suas descobertas, ela dedicou a vida a estudar os usos práticos dos elementos químicos, e chegava a manter um pedaço de urânio (que brilhava no escuro) na cabeceira da cama. Marie foi a responsável por identificar dois elementos da tabela periódica, o rádio e o polônio – nome que deu em homenagem ao seu país natal.
Embora tenha se naturalizado francesa, ela sempre buscou manter os laços com a terra de origem: alfabetizou as duas filhas também em polonês e as levava para viagens constantes a Varsóvia. Uma delas, Irène, seguiu os passos da mãe e também ganhou um Nobel, em 1935. Marie, no entanto, havia morrido um ano antes, vítima dos efeitos da radiação.
![]()
Nascida Eleanor, seus pais a achavam um bebê independente demais para ter um nome tão “delicado”. Meses após o batismo, mudaram para Barbara.

Tímida, desde jovem queria ser uma cientista, mas sua mãe insistia que um diploma a impediria de achar um marido. Com ajuda do pai, Barbara entrou na faculdade. Graduou-se em botânica, tocou banjo em uma banda de jazz e, ao ver um seminário sobre genética, ramo que recém se desenvolvia, decidiu seguir a área.
Já doutora, passou a dar aulas, apesar de preferir os laboratórios. Nos anos 1940, largou a docência para se dedicar apenas à pesquisa. No período, mapeou os cromossomos do milho e iniciou uma revolução ao analisar como grãos do cereal mudam de características a cada geração. Mas ninguém acreditou nos resultados. Só 20 anos depois, quando homens encontraram os mesmos indícios, ela recebeu o crédito pelo achado.
Ela descobrira a transposição genética: percebeu que genes sofrem mutações a cada geração e “ligam” ou “desligam” fenótipos. Isso mostrou que sequências de DNA podem causar doenças ou serem “desativadas” para curá-las – um feito que revolucionou e ainda vai gerar impactos da medicina à agricultura por anos a fio. Contrariando a mãe, Barbara nunca se casou.
![]()
Se você já ouviu falar de Henrietta Lacks, deve ter sido por sua morte – ou, mais exatamente, por sua imortalidade.

Descendente de escravizados nas grandes plantações do sul dos EUA, ela levou uma vida humilde e foi vitimada por um agressivo câncer cervical aos 31 anos.
Poderia passar esquecida pela história, mas, além de quatro filhos, Henrietta deixou uma contribuição inestimável (e inesperada) à medicina. Imediatamente após sua morte, suas células cancerígenas foram retiradas para estudo. E os especialistas viram uma propriedade incomum: elas eram “imortais”, ou seja, podiam ser reproduzidas de forma potencialmente infinita para os mais diversos fins.
“Era como se o interior do seu corpo estivesse cheio de pérolas”, escreveu um médico sobre os vários tumores brancos que cobriam os órgãos de Henrietta. As células ganharam nome próprio, HeLa, renderam bilhões de dólares em descobertas e salvaram milhões de vidas pelo caminho: são utilizadas em estudos no tratamento de hemofilia, leucemia, Parkinson, herpes, além do desenvolvimento da vacina contra a poliomielite e na quimioterapia, entre outros.
Mas a “imortalidade” de Henrietta também se tornou um dilema na ética médica: na época, era padrão que os pesquisadores retirassem material de seus pacientes sem consentimento. Antes de as células HeLa se tornarem famosas, a família de Henrietta nunca havia sido informada e nem recebeu compensação pelos lucros obtidos com seu material genético.
Ainda hoje, as células de Henrietta seguem vivas e se reproduzindo em laboratórios.
![]()
Ser mulher na Idade Média não era nada fácil. Além de não ter espaço político na sociedade da época, havia um imenso desconhecimento sobre o corpo feminino.

Como quase todos os médicos eram homens, o desconhecimento imperava. Mesmo as mulheres letradas em geral eram monjas religiosas que, embora soubessem mais sobre o funcionamento do organismo das mulheres e suas diferenças em relação ao dos homens, não tinham experiência em primeira mão sobre reprodução ou gravidez.
Os “especialistas” da época acreditavam, por exemplo, que o útero tinha a capacidade de sentir cheiros. Um problema pulmonar poderia ser causado pelo fato de o útero ter subido demais no corpo e se aproximado dos brônquios, o que significava que era preciso afastá-lo de lá. Uma combinação de odores pútridos era aproximada do nariz da mulher, enquanto vapores e óleos com cheiros doces eram posicionados perto da vagina, com o objetivo de “atrair” o útero para baixo.
A menstruação também não escapava da ignorância. A sabedoria popular medieval garantia que queimar um sapo era uma boa maneira de reduzir o fluxo menstrual – melhor ainda se suas cinzas fossem colocadas em uma bolsa em frente ao órgão reprodutor feminino. O fato de as menstruações serem menos frequentes, devido a uma alimentação pior e a um maior número de filhos por mulher, contribuía para aumentar o tabu e a ignorância.
Trota, uma médica de Salerno, no sul da Itália, ajudou a melhorar as coisas para as mulheres de seu tempo. Com acesso facilitado aos livros pelo fato de seu marido também exercer a medicina, ela passou a buscar maneiras de aliviar a dor no parto com chás e ervas (a anestesia só começaria a ser aplicada no século 19) e também sugeriu conceitos inovadores – ao discutir a infertilidade, propôs que os problemas para ter filhos podiam não vir necessariamente da mulher, mas também do homem.
Ela seguiu influenciando a vida de mulheres europeias nos séculos seguintes: seus trabalhos foram sendo reeditados quase sem alterações por 400 anos – e ainda hoje são atuais. Exercícios físicos regulares, alimentação balanceada, cuidados com a higiene pessoal eram algumas das dicas que Trota dava para melhorar a saúde geral e sexual das suas pacientes e leitoras.
Seus conhecimentos foram reunidos na Trotula, obra que compila textos seus e de outros médicos de Salerno. Mas o machismo quase apagou seu nome. Só no século 20, historiadores começaram a comparar fontes europeias citando o livro e concluíram que Trota de Salerno havia escrito parte do original.
![]()
No início de 1992, o governo do Quênia promoveu uma série de prisões arbitrárias para intimidar opositores. Junto com dezenas de mulheres, a bióloga e ativista Wangari Maathai protestou fazendo greve de fome.

Não se tratava de uma jovem rebelde e, sim, de uma renomada acadêmica de meia-idade. Nos anos 1960, ela havia sido uma dos 300 estudantes africanos convidados pelo senador John F. Kennedy a estudar nos EUA. Lá, estudou biologia e tomou contato com ideias revolucionárias para a época: a ciência começava a mostrar que replantar árvores e preservar a natureza ajudava a combater a poluição e podia desenvolver seu país ainda mais do que desmatando. Essa seria sua bandeira pelo resto da vida. Após quatro dias, a polícia reagiu com força. A surra – piorada pelo jejum – mandou Wangari para o hospital, mas os manifestantes não desistiram. Em 1993, os presos políticos foram, enfim, soltos.
Não foi a primeira nem a última vez que Wangari enfrentou o presidente Daniel Moi. Três anos antes, havia denunciado os planos de construção de um prédio comercial em um parque de Nairóbi. O governo disse que ela era uma “mulher louca” que não respeitava os homens. “Vamos usar a anatomia que importa, que é do pescoço para cima”, respondeu a bióloga. Meses depois, os investidores estrangeiros cancelaram a verba destinada ao projeto.
Em 1977, Wangari fundou o Green Belt Movement (GBM), iniciativa que já plantou mais de 51 milhões de árvores no Quênia. As primeiras integrantes do movimento foram justamente trabalhadoras de comunidades rurais, responsáveis pelo cultivo de alimentos e coleta de água. Com a restauração das florestas, a população do campo teve acesso a lenha e comida barata, e os rios voltaram a fluir. Além do ambientalismo, a professora fez questão de defender a democracia, o direito das mulheres e a redução da desigualdade social. E isso era suficiente para que o governo a visse com maus olhos.
Wangari também foi eleita deputada em 2003 e, um ano depois, virou a primeira mulher africana a receber o Nobel da Paz. “Meu único limite são minhas habilidades”, costumava repetir.
![]()
A data de seu nascimento é incerta – costuma ser situada entre os anos 350 e 370 –, mas não há dúvidas de que Hipátia (pronuncia-se Hipácia) nasceu em uma cidade em dificuldades: criada sete séculos mais cedo por Alexandre, o Grande, Alexandria havia representado o domínio grego sobre o Antigo Egito, mas agora vivia um período de declínio.

A famosa biblioteca, onde estudaram vários sábios de diferentes pontos da África, Europa e Oriente Médio, foi lentamente reduzida a uma fração de seu antigo acervo. Guerras, incêndios e até mesmo um tsunâmi, no ano 365, fizeram com que grande parte da antiga glória se perdesse. Não à toa, o matemático Téon decidiu mandar a filha, Hipátia, estudar em Atenas.
Quando retornou a sua terra natal, Hipátia rapidamente se destacou: desenvolveu seu próprio hidrômetro e um astrolábio (instrumento usado para medir a posição das estrelas) e conquistou uma legião de seguidores, com quem discutia conceitos de aritmética, geometria e astronomia. Grande pensadora de seu tempo, tornou-se líder da escola neoplatônica, digna de figurar entre os grandes filósofos do mundo greco-romano. Seguidora de Plotino, era adepta do monismo: a ideia de que tudo o que existe vem de uma única fonte, “O Um”, anterior a tudo.
Mas as luzes recuperadas por Hipátia não foram suficientes para tirar Alexandria de seu período atribulado. Com o Império Romano abraçando o cristianismo com um fervor cada vez maior, a filósofa passou a ser considerada uma ameaça por “doutrinar” os jovens fora dos preceitos da Igreja. O bispo da cidade, Cirilo, espalhou boatos de que Hipátia fazia sacrifícios humanos.
Inflamado pelo líder religioso, um grupo de fiéis armados capturou a filósofa. Ela foi arrastada para a igreja de Cesarion, teve suas roupas rasgadas e foi espancada até a morte – uma versão, mais rica em detalhes sórdidos, diz que ela teve a pele raspada com ostras e restos de cerâmica. No fim, seus membros foram arrancados e os restos mortais, queimados, para varrer qualquer resquício das suas ideias. Cirilo de Alexandria, por outro lado, seria canonizado e viraria santo: a festa em sua homenagem é celebrada em 27 de junho.
Além do fanatismo religioso, tratava-se sobretudo de uma briga de poder: entre os discípulos de Hipátia estava o prefeito Orestes, que sempre consultava a filósofa antes de tomar uma decisão importante. Cirilo dizia que a pensadora era uma bruxa que estaria usando seus poderes para seduzir Orestes. Os registros, porém, apontam que Hipátia se manteve celibatária até o fim, com o objetivo de dedicar todos os seus dias ao estudo.
![]()
Quando Hitler assumiu o poder em 1933, a jovem Hannah Arendt foi impedida de iniciar sua carreira docente em Berlim. O motivo: a recém-doutora em Filosofia era judia.

O regime nazista prenderia a filósofa brevemente ainda naquele ano, por resistir à perseguição antissemita. Eram os primeiros passos da Alemanha para o Holocausto.
A situação forçou Arendt a fugir para Paris, onde foi declarada apátrida pelos alemães. Essa experiência marcaria sua teoria política: ela buscou entender como e por que genocídios e governos totalitários se tornam viáveis. Após a ocupação nazista da França, em 1940, ela chegou a ser presa em um campo de detenção, mas conseguiu fugir para os EUA com a ajuda de um repórter americano, que levou ao país cerca de 4 mil refugiados no período.
Lá, em 1951, publicaria Origens do Totalitarismo, seu primeiro livro de sucesso. Para Arendt, a ascensão do nazismo e do comunismo representou um novo tipo de regime, cujo fim seria o domínio absoluto de todos os aspectos da vida de um povo. Esse tipo de governo se justificaria por meio de grandes ideologias sustentadas via propaganda estatal, que apresentariam soluções simples e únicas para todos os problemas.
Anos depois, a pensadora teria a oportunidade de analisar mais de perto a dimensão humana dos responsáveis pelo Holocausto. Coordenador logístico do genocídio, o nazista Adolf Eichmann, até então foragido, foi preso e mandado a julgamento em Israel. No tribunal, Hannah se chocaria ao encontrar no banco dos réus não um monstro, mas um burocrata cioso das leis, regras e diretrizes.
Hannah acompanhou o processo e lançou uma série de artigos em que buscou explicar como um homem tão comum foi capaz de algo tão terrível. Nascia o conceito de banalidade do mal: Eichmann teria se tornado um genocida não por uma malvadeza radical, mas por ser um homem acrítico que abandonou sua autonomia para seguir regras. O nazista teria sido motivado não por ser um homem cruel, mas por uma estupidez. O mal pode se tornar algo banal.
Seus textos, publicados originalmente na revista New Yorker, foram mal-recebidos por parte da comunidade judaica, que acusou a filósofa de “humanizar” o carrasco.As críticas se somaram a acusações de antissionismo contra Arendt, que defendia uma solução de dois Estados para o conflito entre Israel e Palestina. Polêmicas à parte, sua análise é hoje referência para a compreensão dos regimes totalitários do século 20 – e de agora.
![]()
Ao longo da história, o que é ser mulher foi definido a partir de valores masculinos. Nessa lógica, o feminino é mera oposição ao masculino. Eles são fortes; elas, frágeis. Eles trabalham; elas cuidam do lar.

Ao analisar a condição feminina, a filósofa francesa Simone de Beauvoir percebeu esses limites e propôs uma solução: mulheres precisam se autoproduzir, definir a si mesmas, para deixar de ser definidas pelo olhar de um outro. “Não se nasce mulher; torna-se” foi sua conclusão. Beauvoir usou para formular suas ideias o existencialismo, pensamento popular na Europa pós-2ª Guerra. Sua ideia central é que a existência humana vem antes de sua essência. Ou seja: não há nada que nos faça ser de um jeito ou de outro. Cabe a nós definir isso. Beauvoir sugeria que mulheres reconquistassem a própria independência por meio do cultivo de uma vida responsável, livre e autossuficiente. Seu pensamento, ousado para a época, impulsionou o feminismo ao colocar a desigualdade entre homens e mulheres como uma questão a ser refletida – e enfrentada.
Sua grande obra é O Segundo Sexo, de 1949, considerada uma das mais importantes e originais da história. Foi nela que Simone refletiu sobre a condição feminina a partir de como o corpo da mulher era visto e enquadrado pelas convenções sociais e por uma lógica patriarcal que a subjuga. A obra se tornou leitura obrigatória para a compreensão do pensamento feminista da segunda metade do século 20.
Com uma escrita que combina filosofia e literatura, Simone produziu uma vasta bibliografia, de romances até o autobiográfico A Cerimônia do Adeus. Por seu carisma e modo de vida excêntrico, Beauvoir foi uma intelectual-celebridade. Essa visibilidade alastrou sua influência para a política e a cultura popular.
Além de militar em causas feministas, protestou contra o colonialismo francês e foi uma das entusiastas do movimento de maio de 1968.
Nascida em uma família rica de Paris, teve criação católica e até cogitou virar freira. Mas logo se revelou uma ateísta convicta. Formada, se tornou professora aos 21 anos, até hoje a pessoa mais jovem a passar em um concurso docente na França.
![]()
Até 2011, a ciência estava trancafiada por muros de dinheiro. Para cruzar os paywalls e ler cada estudo, os usuários precisavam desembolsar dezenas de dólares.

Mas, naquele ano, o site Sci-Hub liberou o acesso ao acervo dos maiores repositórios de pesquisas científicas privados do mundo. Hoje, são mais de 74 milhões de arquivos pirateados pela plataforma.
A responsável foi a jovem hacker de origem cazaque Alexandra Elbakyan. Antes de defender a livre circulação de informações, Alexandra era uma aluna de TI em apuros. Ela precisava concluir seu projeto final para a faculdade, mas esbarrava numa dificuldade: todos os artigos sobre o assunto estavam bloqueados por um caro paywall, e a solução era recorrer a fóruns de universitários que liberavam os trabalhos para os colegas.
Um par de anos e muitas linhas de código depois, ela criou o algoritmo que automatizou a tarefa – nascia então o “Sci-Hub”. Para Alexandra, o site permite às pessoas participarem do progresso científico, como prevê o artigo 27 da Declaração dos Direitos Humanos. Em 2016, ela foi considerada uma das dez pessoas mais importantes do ano pela revista Nature. Meses depois, a justiça dos EUA decidiu que Sci-Hub e sites similares deveriam pagar US$ 15 milhões à Elsevier, a maior editora de publicações científicas. A hacker vive escondida desde então.
![]()
Quando o assunto é Prêmio Nobel, grandes pensadoras e ativistas se acumulam na lista de reconhecidos na Literatura, Paz, Física, Química e Medicina

Mas não na Economia, que distribui medalhas desde o fim dos anos 1960 e, até hoje, só premiou uma mulher. Elinor Ostrom, professora da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, foi quem rompeu o domínio dos homens na área – em 2009, mais de 40 anos após a criação do prêmio.
As ideias que chamaram a atenção do comitê tinham a ver com a vida em comum: estudando pastores africanos, pescadores da Indonésia e vilarejos remotos do Nepal, ela comprovou como diferentes sociedades são capazes de se organizar para gerenciar o uso de recursos naturais limitados, como os peixes de um rio, as pastagens de um rebanho ou uma floresta. Suas observações ajudaram a questionar uma antiga noção econômica segundo a qual, mais cedo ou mais tarde, interesses individuais acabariam derrubando os objetivos comuns e destruindo o meio ambiente.
Ostrom demonstrou, na prática, que as pessoas diretamente afetadas pelo uso dos recursos naturais costumam tomar decisões mais lucrativas e sustentáveis do que quando uma empresa privada ou o governo se envolvem no assunto. Seus trabalhos continuam a influenciar políticas de sustentabilidade ao redor do mundo.
![]()
Não se tem uma data exata de quando os primeiros africanos foram trazidos para serem escravizados nos Estados Unidos. Mas sabe-se quando eles foram libertos: 1º de janeiro de 1863. Quatro anos depois, em uma família composta inteiramente de escravos libertos, nasceu a primeira criança livre.

Sarah Breedlove entraria para a história como a primeira mulher a se tornar milionária por conta própria. O caminho foi longo: mesmo com a liberdade, Sarah teve que trabalhar durante toda a infância em plantações de algodão. Perdeu sua mãe aos 7 anos, e o pai pouco tempo depois. Foi abusada pelo cunhado e, para fugir, casou-se aos 14 anos. Aos 21, com uma filha, já era viúva.
Ela foi, então, morar com seus irmãos mais velhos, que trabalhavam em uma barbearia. Conseguiu também um emprego, lavando o cabelo das clientes. Nesse período, passou a ter problemas no couro cabeludo e começou a ficar careca. Ela usou diversos produtos e nenhum funcionava. Cansada da falta de bons produtos para mulheres como ela, buscou uma solução. Lendo os rótulos, pesquisando sobre o benefício e ação de cada componente, criou sua própria linha de produtos de beleza. Sua técnica era simples: passava uma pomada caseira pelo couro cabeludo, aquecia os pentes e escovava os cabelos. E funcionou, atraindo uma legião de fãs.
Mudou seu nome, incluiu o sobrenome do novo marido, Charles Joseph Walker e, por indicação dele que trabalhava na área de vendas e publicidade, chamou a marca – e a si mesma – de “Madam C.J. Walker”.
Vendia seus produtos de porta em porta. Com o sucesso aumentando, precisou contratar funcionárias, as “agentes Walker”. Ela queria que mais mulheres negras empreendessem, fossem autônomas e ganhassem seu próprio dinheiro. “Não estou satisfeita em ganhar dinheiro só para mim. Eu me esforço para oferecer emprego a centenas de mulheres negras.”
A marca fez um imenso sucesso. Ela viajou por diversos Estados do seu país para treinar suas consultoras. Em 1910, estabeleceu uma fábrica em Indianápolis e expandiu seus negócios para outros países, como Jamaica, Cuba, Costa Rica, Panamá e Haiti.
A primeira milionária com o próprio trabalho da história financiou bolsas de estudo para mulheres negras nas universidades, além de fazer doações para a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor dos EUA e outras instituições envolvidas com a causa. Walker mudou até a língua inglesa. Nos EUA, o termo para isso era self-made man, ou “homem feito por si mesmo”. Madam obrigou que a expressão ganhasse um novo gênero: ela foi a primeira self-made woman.
![]()
Ostentando vários recordes e pioneirismos em seu currículo, a aviadora Amelia Earhart parecia ter poucos desafios restando por concluir quando decidiu partir na missão mais ambiciosa da sua vida.

No início de junho de 1937, pouco mais de um mês antes de completar 40 anos, ela e o navegador Fred Noonan saíram da Califórnia com o objetivo de dar a volta ao mundo a bordo do Electra, o avião dela. Pelo caminho, percorreram 22 mil quilômetros e chegaram a passar pelo Brasil, com escalas em Fortaleza e Natal, antes de seguir viagem para a África e a Ásia.
Em 2 de julho, já na Oceania, seu avião partiu de Papua-Nova Guiné para iniciar a parte final – e mais difícil – do trajeto, percorrendo o Pacífico até chegar novamente aos Estados Unidos. Faltavam 10 mil quilômetros. Mas, após aquela decolagem, a aeronave logo perdeu contato de rádio e nunca mais foi vista. A Marinha dos EUA tentou encontrar os restos do avião, mas, na vastidão do oceano, não teve sucesso. As buscas foram encerradas após 16 dias, sem conclusão. Amelia e seu navegador foram declarados oficialmente mortos em 1939, mas seus corpos jamais foram encontrados.
O desaparecimento e provável morte de Amelia Earhart permanece como um dos grandes mistérios da história da aviação. Não se sabe se a aeronave caiu em terra ou no mar, se ela chegou a sobreviver ao impacto ou, mesmo, se houve um acidente: algumas teorias da conspiração surgiram desde lá, garantindo que ela estaria viva e retornou incógnita, adotando outro nome. Outros dizem que teria pousado no Japão e atuado como espiã na 2a Guerra.
Especulações à parte, o que se sabe é que a vida de Amelia foi suficiente para convertê-la em lenda. Desde que começou a voar, nos anos 1920, ela estabeleceu uma série de recordes de velocidade, altitude e distância, tanto entre mulheres quanto para os dois sexos. Em 1932, em seu feito mais notável, se tornou a primeira mulher a cruzar o Atlântico pilotando sozinha: saiu do Canadá e pousou em Derry, na Irlanda do Norte, após 14 horas e 56 minutos de viagem. Seu plano era seguir até Paris, mas uma tempestade no caminho provocou uma aterrissagem forçada – como o oceano havia ficado para trás, a marca foi estabelecida da mesma forma.
Os feitos de Amelia contribuíram para a evolução dos conhecimentos na aviação e ajudaram a integrar as mulheres a essa área, dominada por homens. Seu sucesso e sua ambição a colocaram muito à frente de seu tempo: após o desaparecimento do Electra, seriam necessários outros 27 anos até que uma mulher finalmente realizasse a volta ao mundo sozinha. Em 1964, Geraldine Mock realizou o feito que sua ídola havia morrido tentando alcançar.
![]()
No caminho para a base de lançamento, a cosmonauta Valentina Tereshkova se deparou com uma decisão inesperada para alguém que estava a ponto de embarcar em uma histórica missão espacial: pedir ao motorista que parasse para ela fazer xixi.

Era 16 de junho de 1963 e, pouco mais de dois anos antes daquela empreitada, Yuri Gagarin havia se tornado o primeiro ser humano a orbitar a Terra. Gagarin também tinha iniciado uma tradição improvisada: precisando muito ir ao banheiro antes de entrar na nave, desceu e urinou no pneu de trás do ônibus. A missão de Gagarin foi um sucesso e, desde então, todos os cosmonautas que se seguiram repetiram o gesto, por superstição.
Todos, porém, eram homens. Mas, se aquela era uma missão em parte dedicada a mostrar que mulheres podiam fazer o mesmo que eles, não seria um xixi qualquer que impediria Valentina de seguir adiante: ela também deixou a sua marca à beira da estrada e, em seguida, embarcou na Vostok 6 para fazer história. Ela deu 48 voltas ao redor da Terra, tornando-se a primeira mulher no espaço, em uma missão que durou mais do que o previsto: quase três dias, em vez de um.
Só em 2004 foi revelado que um erro no controle de solo fez com que a espaçonave subisse mais ao invés de descer, estendendo a permanência e arriscando a vida da cosmonauta. Mas, fiel ao seu juramento, Valentina jamais havia comentado o caso antes de ele ser tornado público – embora tenha sido ela a responsável por identificar o erro dos colegas, já nas primeiras horas.
Valentina, que trabalhava em uma fábrica de tecidos e pulava de paraquedas como hobby, foi selecionada entre mais de 400 mulheres para participar do programa espacial soviético – a ideia era estudar se o organismo feminino se comportaria de forma diferente do que o dos homens que já haviam estado em gravidade zero desde a missão de Gagarin, em abril de 1961.
Os requisitos eram simples: pelas limitações da engenharia da nave, a selecionada precisava ter menos de 1,70m de altura e, para garantir boa saúde, não poderia passar dos 30 anos. Aos olhos do Kremlin, manter uma boa militância contava pontos extras – e Valentina preenchia toda a checklist, sendo secretária da Liga da Juventude Comunista. O grande diferencial, porém, acabou sendo sua experiência com paraquedismo, algo pouco comum na época.
Valentina voltou à Terra como uma heroína em uma área que permanece pouco feminina. Até hoje, ela continua a ser a única mulher a ter embarcado sozinha em uma missão espacial.