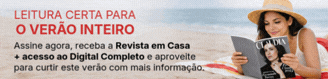As origens biológicas da fé: por que o ser humano é religioso?
Sacríficios como jejuns, celibatos e templos caríssimos batem de frente com instintos de sobrevivência e reprodução. Por que, então, já nascemos tão dispostos a crer? Entenda esse paradoxo.

Texto: Bruno Vaiano | Design: Juliana Krauss | Ilustrações: Helena Sbeghen
O rochedo de Gibraltar, com 472 m de altura, fica no extremo sul da Espanha. O monte Muça, com 851 m, fica no extremo norte do Marrocos. Essas duas formações geológicas litorâneas são separadas por uma faixa de apenas 13 km de mar – o estreito de Gibraltar, que faz juz ao “estreito” no nome: a ponte Rio-Niterói seria suficiente para atravessá-lo.
Juntos, o rochedo e o monte são conhecidos como Pilares de Hércules, e o nome épico se aplica: ali, o Atlântico encontra o Mediterrâneo, e a Europa quase encontra a África. Na tradição greco-romana, conta-se que o herói abriu a passagem com as próprias mãos para completar o décimo de seus doze trabalhos.
Ali, no portão do Velho Mundo, vive a última espécie de macaco selvagem da Europa, de nome científico Macaca sylvanus. Em 2013, a National Geographic equipou três desses bichinhos com câmeras HD portáteis, para que víssemos o mundo com os olhos deles – e, assim, entendêssemos melhor a rotina e o comportamento desses bichos.
Em certo momento da filmagem, uma macaquinha chamada Sylvia escala o rochedo de Gibraltar no final da tarde e contempla o Sol alaranjado desaparecer no horizonte, iluminando o paredão rochoso do Muça no continente ao lado. Havia muitos estímulos ao redor, como árvores com alimento e outros animais, mas ela se viu hipnotizada pela paisagem por alguns minutos.
Não é exagero dizer que Sylvia sentiu o que chamamos de fascínio ou deslumbramento. Agustín Fuentes, antropólogo da Universidade Princeton que fez parte do experimento, explicou em um artigo no site Big Think que essa emoção já foi verificada repetidamente em diversas espécies de primatas – incluindo nossos primos mais próximos, os chimpanzés.
Em princípio, essa estupefação que sentimos diante de algo maior e mais poderoso do que nós mesmos parece desvantajosa do ponto de vista da seleção natural, já que nos deixa inertes e distraídos, suscetíveis a predadores.
Mas ela pode ser útil na natureza para manutenção de hierarquias (você não planejaria uma insurreição contra um faraó macho alfa capaz de erguer uma pirâmide do tamanho de um arranha-céu) e para aquisição de informações sobre o ambiente circundante (um bichinho que vê a paisagem do alto volta bem informado sobre seus arredores). Eis aí dois bons jeitos de permanecer vivo.
Nos últimos anos, Fuentes e outros estudiosos da evolução humana vêm argumentando algo além: o fascínio seria um jeito de recalibrar periodicamente nossa cabeça. “Ele nos tira do funcionamento autorreferencial constante do nosso cérebro, do processamento de estímulos baseado em experiências vividas por nossos próprios corpos e mentes.
Por um momento, […] nos sentimos conectados com algo além de nós mesmos.” Em suma: se sentir minúsculo diante do mundão lá fora é um reset, um lembrete de que você é só uma poeirinha cósmica e seus problemas não são tão grandes assim. E essa dose de humildade pode ser uma das chaves para desvendar um mistério da biologia evolutiva: por que os seres humanos são religiosos.

O custo-benefício da religião
A Sagrada Família, em Barcelona, começou a ser construída em 1882 e ficará pronta na década de 2030, na melhor das hipóteses. Hoje, o maior empecilho é uma rampa-escadaria de 60 m de comprimento que passará por cima da Rua Mallorca e dará acesso à fachada da Glória (a maior das três entradas principais do templo, e a única delas que ainda não saiu do papel).
Esse anexo exigirá a demolição de um quarteirão da cidade com 3 mil residentes, que militam para impedir a obra. Em 1926, quando Antoni Gaudí morreu, a basílica estava só uns 20% pronta: “Meu cliente não tem pressa”, dizia o arquiteto, apontando para o céu.
As cifras, de fato, são astronômicas: hoje, a construção custa aproximadamente 25 milhões de euros por ano – em reais, são quase 150 milhões. É caro. Mas esforços assim não são novidade na história humana. Não existe um grupamento humano registrado que não pratique algum tipo de fé.
Faz milênios que usamos tempo e recursos em detrimento de nós mesmos para construir templos, participar de rituais, peregrinar etc. Em muitos casos, os fiéis renunciam ao sexo, praticam jejuns torturantes e até se castram voluntariamente – o que contraria instintos básicos.
É evidente que essas práticas geram bem-estar espiritual, mas de que forma ele compensa os prejuízos? Do ponto de vista darwiniano, comportamentos universais passam a vir instalados de fábrica no cérebro de uma espécie por dois motivos: ou por fornecerem uma vantagem de sobrevivência e reprodução aos indivíduos, ou como um efeito colateral de outra coisa.
Por exemplo: insetos dão voltas em torno de lâmpadas ou se queimam em lareiras porque seus sistemas de navegação noturna acabam confundidos por essas fontes de luz artificiais. Uma lógica equivalente poderia explicar, por exemplo, como a fé convence um mártir a tirar a própria vida. Ao longo da história, antropólogos e biólogos levantaram muitas hipóteses sobre quais seriam essas vantagens ou efeitos colaterais.
“Em linhas gerais, essas sugestões se dividem em cinco tipos”, escreve o antropólogo Robin Dunbar da Universidade Oxford, autor do livro How Religion Evolved (“Como a religião evoluiu”, sem edição brasileira). “A religião como uma forma de ciência primitiva, como uma forma de intervenção médica, como um modo de assegurar a cooperação em um grupo, como um mecanismo de opressão política e como um jeito de criar laços sociais.”
Existem diferentes graus de evidência a favor de cada uma dessas sugestões, e nada impede que todos esses fatores tenham contribuído, nem que seja só um pouquinho, para a universalização do comportamento religioso na espécie humana. Nós somos suscetíveis a todo tipo de viés cognitivo: caímos no conto do efeito placebo, nos assustamos com tábuas Ouija e confundimos pilhas de roupa suja com o bicho-papão.
Essa facilidade em acreditar pode ser, em si, uma estratégia de sobrevivência. Se você ouve o farfalhar de um arbusto na escuridão do cerrado, o sensato a fazer é sair dali, e não verificar se o barulho é uma onça ou só um bebê capivara de lacinho. Os humanos mais supersticiosos e assustados, portanto, teriam uma vantagem em relação aos mais racionais.
O problema é que, quando os antropólogos observam caçadores-coletores que efetivamente vivem na natureza, fica óbvio que essa inocência toda é ilusão: eles são íntimos da mata, profundos conhecedores de sua dinâmica e seus sinais.
Outra ideia: crianças que obedecem aos mais velhos, por exemplo, têm menos chances de se meterem em encrenca – daí para acreditar nos conselhos de um vovô imaginário, é um pulinho. Isso leva ao raciocínio de que Deus surgiu como um arremedo de Judiciário. Afinal, é inevitável que as pessoas briguem em grandes grupamentos humanos. A existência de céu, inferno e mandamentos é conveniente para manter a população na linha – os mais obedientes sobrevivem, fazem mais bebês e espalham a obediência por aí.
Há um problema, porém: pressupor que sempre existiu a figura de Deus enquanto autoridade, ou algo análogo aos conceitos de céu e inferno. Não era assim que as crenças funcionavam originalmente. É possível passar várias páginas discutindo as virtudes e os problemas de cada hipótese desse tipo, mas essa não é bem a abordagem mais produtiva.
Para entender por que somos religiosos, talvez o caminho seja outro: entender como as religiões operavam no passado distante. Afinal, elas são artefatos culturais em constante mutação, criados e recriados por nós. A fé como a conhecemos hoje não necessariamente se parece com o tipo de fé que teria dado vantagens seletivas aos primeiros sapiens.

Espíritos canabinoides
As primeiras manifestações de espiritualidade humana eram difusas: tinham mais a ver com a ideia de que as plantas, rochas e córregos ao redor também são sencientes e têm livre-arbítrio.
Pense naquela impressão de que a cadeira em que você tropeçou está te sacaneando. É inevitável atribuir significado a coincidências e intervir sobre a natureza com feitiços e simpatias. O filósofo francês Henry Bergson escreveu: “Não são espíritos já individualizados que teriam sido concebidos a princípio; simplesmente teriam sido atribuídas intenções às coisas e aos acontecimentos, como se em toda parte a natureza tivesse olhos fitando os homens.”
Esse tipo de fé foi batizada genericamente como animismo pelos acadêmicos europeus do século 19. Essas tradições frequentemente giram em torno de elementos como tótens e espíritos da floresta ou das águas – bem como rituais festivos que podem incluir música, dança, banquetes e substâncias psicoativas como o DMT da ayahuasca e a mescalina do cacto peyote, usada por indígenas no México há 5,5 mil anos.
Drogas, de fato, são muito comuns: islâmicos, egípcios, hindus, vikings, adivinhos chineses e até os babilônios usaram maconha em contextos místicos em algum momento da História.
Na falta dessa ajudinha bioquímica, nossas glândulas fazem o serviço. Tocar um tambor ou seguir uma coreografia são atividades coletivas, que exigem sincronia e geram bem-estar graças às endorfinas – analgésicos opioides, da mesma família da morfina, que nosso corpo produz naturalmente em resposta a atividades prazerosas como sexo, exercício físico, arte etc.
Endorfinas dão barato. Põem você em um estado de consciência alterado, em um êxtase. Não por coincidência, o significado original da palavra “entusiasmo”, que vem da Grécia Antiga, é “possuído por Deus”.
O chamado runner’s high, que é um relaxamento físico e psicológico agradável após exercício físico intenso, é desencadeado precisamente por moléculas como endorfinas e endocanabinoides (“endo” significa que as moléculas são produzidas pelo próprio corpo, a parte do “canabinoides” dispensa explicações).
Caçadores-coletores sabiam induzir esse bem-estar em si mesmos. Vide, por exemplo, os povos San, nativos do sul da África – que, em algumas regiões de Botsuana, ainda usam armas e ferramentas idênticas às encontradas em sítios arqueológicos de 42 mil anos atrás.
Quando há um climão chato no grupo – com intrigas, fofocas e discussões –, organiza-se uma dança terapêutica exaustiva, que vira a madrugada, sem pausa. A ideia é entrar em um transe chamado !kia e acessar o plano paralelo dos espíritos. Os curandeiros extraem entidades más dos doentes em algo que, da perspectiva do Ocidente, parece um exorcismo cristão. No seguinte, os San acordam exaustos e pacíficos, e deixam as desavenças para trás.
Em um estudo com 488 sociedades do mundo todo, 90% incluíam transes e estados alterados de consciência em seus rituais e crenças – sejam eles induzidos com uma ajudinha bioquímica externa, por meditação ou por alguma outra estratégia.
Esses êxtases, bem como feitiços e simpatias que existem desde a Pré-História, sobrevivem camuflados em meio aos dogmas das grandes religiões contemporâneas. Shows de música gospel – assim como os da Taylor Swift ou do Iron Maiden – são indutores de catarses coletivas, e pastores pentecostais acessam estados de êxtase quando “falam em línguas” (uma prática chamada glossolalia).
Enquanto isso, a Fundação Cacique Cobra Coral vende seus serviços a prefeituras e empresas com a alegação de que é capaz de impedir que chova em eventos como o Révellion ou o Rock in Rio. A meditação budista talvez seja o exemplo mais óbvio de autoindução de um transe, mas o catolicismo não deixa a desejar: conta-se que Francisco de Assis e Teresa de Ávila levitavam ao orar. Astrologia, numerologia, feng shui: o misticismo dos primeiros seres humanos permanece vivo de várias formas.
Essa é uma observação interessante porque muitos outros aspectos das crenças atuais são invenções bem mais recentes. Escrituras como a Bíblia ou o Corão, tábuas com mandamentos, templos e sacerdotes profissionalizados com hierarquia (como padres, bispos, cardeais etc.) são novidades.
Na África Subsaariana, por exemplo, a evidência mais antiga de um protótipo de monoteísmo data de “só” 7 mil anos atrás, entre as populações falantes de línguas cuxíticas do atual território do Sudão. É pouquíssimo, comparado aos 300 mil anos de duração da História e Pré-História humanas.
Hoje, as três grandes doutrinas monoteístas abraâmicas (cristianismo, islamismo e judaísmo) são praticadas por 57,6% da população mundial. Mas esse tipo de religião só se popularizou após o surgimento de civilizações densamente populadas, com governo centralizado, legislação e agricultura em larga escala. Há uma ligação óbvia entre a formalização da fé e a organização de um Estado.
Ou seja: é possível discernir, em alguma medida, quais aspectos da atividade religiosa emergem espontaneamente em diversos povos mundo afora e quais são criações específicas de uma etnia ou de um momento histórico. E, feita essa separação, fica mais fácil entender o que a religião teria oferecido aos primeiros humanos que a praticaram. Em suma, comunhão social e êxtase.
A fé não costuma falhar
No século 19, o nordeste dos EUA foi berço de uma modinha utópica. Centenas de gurus ideológicos e líderes espirituais fundaram comunas agrícolas e vilarejos autossuficientes.
A maioria se dissolveu em décadas, mas uma análise de 53 desses grupos revelou um padrão: em média, os grupos religiosos eram maiores e duravam 35,6 anos a mais que os seculares [veja o box abaixo]. Além disso, grupos religiosos conseguiam alcançar populações maiores antes de começarem a ter problemas.

Conclusões parecidas valem para outras situações em que é possível comparar diretamente comunidades religiosas e não religiosas, como é o caso dos kibbutzim israelenses – que existem tanto em versões seculares quanto religiosas, e são responsáveis por 40% da produção agrícola do país.
Esse boost de longevidade não se aplica só a grupos. Pessoas religiosas também vivem mais que as não religiosas: 29%, em média. O resultado é de uma meta-análise de 41 estudos que investigaram, juntos, 126 mil pessoas. É óbvio: encontrar-se com amigos frequentemente, cantar em grupo e não encher a cara são jeitos comprovadamente bons de aumentar a própria qualidade de vida, e igrejas incentivam esses comportamentos.

Uma espiritualidade saudável é possível fora da religião, é claro – mas, historicamente, a vida cultural e social da maioria das sociedades girou em torno de templos e rituais, e tentativas de criar versões ateias dessas congregações costumam fracassar. O caso mais conhecido é o da Religião da Humanidade do filósofo francês Auguste Comté, que era uma fé ao contrário: os cultos eram voltados à adoração de coisas que existem, sem espaço para o sobrenatural.
Dito isso, o mundo contemporâneo está repleto de grupos que atraem e mantêm seguidores lançando mão dos mesmos mecanismos psicológicos que nos tornam suscetíveis a integrar religiões. No livro Cultish: the language of fanaticism (“Cultos: a linguagem do fanatismo”, sem edição brasileira), a pesquisadora Amanda Montell analisa casos variados, que vão de academias de crossfit a startups com CEOs megalomaníacos.
“Já foi verdade que, quando necessitadas de uma comunidade e de respostas, as pessoas apelavam para a religião”, escreve Montell. Já não é mais o caso. “Um estudo de 2015 da Escola de Divindade de Harvard revelou que pessoas jovens ainda buscam uma experiência espiritual e comunitária profunda para imbuir sua vida de significado, mas que cada vez menos estão satisfazendo esse desejo com a fé convencional.”
Ou seja: os mesmos mecanismos psicológicos que nos tornam suscetíveis à crenças sobrenaturais podem ser canalizados em outras formas de obter êxtase, endorfina e comunhão. O que não muda, claro, é o desejo por esse bem-estar: no final das contas, a exaustão alucinante dos caçadores-coletores San em seus rituais dançantes não é tão diferente do cansaço agradável que um rato de academia sente após uma aula de spinning. Seres humanos, afinal, são primatas gregários, carentes e indecisos. Grupos dão sentido à nossa vida.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO