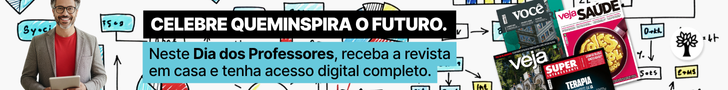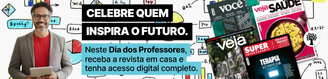Como compor o maior hit pop da história numa planilha de Excel
Na anos 90, 3 malucos tiraram uma média do gosto musical americano e criaram duas canções a partir dos resultados: a mais e a menos agradável. Ouça.

Está chegando fevereiro em São Paulo: aquele mês curto e lindo em que a tolerância musical dos moradores aparentemente democráticos de regiões nobres é posta a prova por cinco dias seguidos de hits do verão do Spotify – sempre em um volume digno dos 126 decibéis alcançados pelo The Who em 1976. Para não falar no hábito recém-institucionalizado de começar os blocos uma semana antes e terminá-los uma semana depois do feriado em si. Darwin abençoe a catuaba.
Diante das ligações para a polícia que inevitavelmente virão, surge a pergunta: terá a ciência o poder de trazer a paz de volta à associação de idosos pudorentos mais próxima – sem, porém, desagradar os foliões? Não foi por falta de tentativa. Em 1996, David Sulzer, um neurocientista da Universidade Columbia, em Nova York, tentou o impossível: coletar dados objetivos sobre o gosto musical dos americanos, transformá-los em uma planilha, e, a partir dela, forjar um hit pop estatisticamente perfeito (e musicalmente mais isento que o PMDB). Em suas palavras, “uma peça que será inevitável e incontrolavelmente adorada por 72% dos ouvintes, com margem de erro de 12% para cima ou para baixo.”
Para facilitar as coisas, a fase IBGE da pesquisa não envolveu teoria musical. O formulário (veja aqui), enviado a uma amostra de 500 voluntários, continha questões como “quais são seus instrumentos musicais favoritos?”, “você prefere canções intelectuais ou emotivas?”, “rápido ou lento?”, “punk, reggae ou folk?” e por aí vai. Terminada a coleta de dados, Sulzer assumiu seu pseudônimo musical – com uma guitarra na mão, atendia por Dave Soldier – e compôs uma canção que contivesse todos os elementos favoritos do público. Teve a ajuda dos artistas plásticos Komar and Melamid, que logo se tornarão importantes para este post – aguarde.
O resultado, um dueto que você pode ouvir aqui, é curioso. Eu me senti preso em um elevador da década de 1990, talvez na “San Junipero” de Black Mirror, com Kenny G. e Andre Rieu fazendo o que sabem melhor – breguices de música ambiente de churrascaria – e (engole seco) Phil Collins na bateria eletrônica. A voz feminina é bastante genérica, a masculina é uma tentativa cômica de imitar Bruce Springsteen. Os versos foram encomendados a uma letrista profissional, e falam, é óbvio, de amor. Tiração de sarro a parte, é notável o quanto a música se parece com algumas coisas que encabeçaram a Billboard na época – a sátira de Sulzer saiu mais Alpha FM que o combinado.
O músico cientista também fez o oposto: pegou os elementos musicais mais desprezados, que quase ninguém assinalou no questionário, e orquestrou uma desagradável ode de 20 minutos a tudo que o americano médio não quer no rádio de jeito nenhum. Entraram em campo sanfonas, tubas, sintetizadores, mudanças de andamento bruscas, acordes dissonantes e uma cantora de ópera improvisando um rap sobre caubóis. De acordo com as contas de Soldier, menos de 200 pessoas na face da Terra sentiriam prazer genuíno ouvindo a peça. As duas canções – intituladas respectivamente “a música mais desejada” e “a música menos desejada” – foram lançadas em 1997 no álbum The People’s Choice: Music (em português, “A Escolha do Público: Música).
O álbum pode até ser uma brincadeira na superfície, mas é uma obra de arte bem sofisticada para quem vê mais de perto: questiona a eficácia de sistemas políticos democráticos e a transformação da música em produto pelas gravadoras, entre outros temas caros a quem gosta de humanas.
Mas dá para ir mais além na análise – e é aqui que os parceiros de Sulzer, os russos Komar and Melamid, entram em cena. Entre 1994 e 1997, antes de serem apresentados ao pesquisador americano, eles já haviam feito exatamente o mesmo experimento, mas com pintura, em vez de música. Consultaram a população diversos países, coletando os temas e motivos em média preferidos em cada lugar para criar obras de arte que agradassem a gregos e troianos. O quadro ideal dos EUA, por exemplo, calhou de ser uma paisagem outdoor (88%), com corpos d’água, como lagos ou rios (49%), animais selvagens (51%) em seu ambiente natural (89%), pequenos grupos de pessoas (48%) e por aí vai (veja aqui um resumo). O resultado é muito similar ao dos favoritos da Dinamarca, do Quênia ou da China – países de culturas completamente diferentes. Mais importante ainda: o resultado se parece com algo que você encontraria pendurado na parede da sua avó, e não arte contemporânea de elite. Países como a Alemanha renderam resultados um pouco mais abstratos e próximos do século 20, mas ainda com alguns dos elementos clichê e kitsch.
Isso se deve em partes, é claro, à história da cultura, mas também pode nos dizer algo sobre a natureza humana. Alguns psicólogos e neurocientistas defendem que a seleção natural nos moldou para sentir uma atração instintiva por paisagens abertas – com animais aqui e ali, árvores esparsas e particularidades geográficas que ajudem as pessoas a se localizar no terreno. Afinal, esse é aproximadamente o ambiente da savana, onde o Homo sapiens surgiu e passou boa parte de sua existência. Em lugares assim, o sentido da visão tem mais espaço para atuar, e ser bípede é mais vantajoso – ao contrário de regiões de mata fechada, em que subir em árvores pode ser mais um meio de locomoção eficiente, e ser um animal farejador, em muitas situações, é mais negócio do que tentar observar predadores chegando em meio à folhagem densa.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO