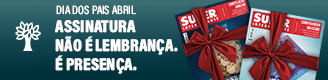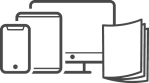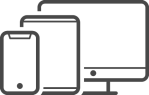Ciência contra o crime
A ciência e a tecnologia estão revolucionando a perícia criminal - e tornando o trabalho dos CSI de verdade muito mais incrível do que na ficção

Com o aperfeiçoamento da genética e sua integração a sistemas ultra-informatizados, solucionar crimes que pareciam perfeitos está cada vez mais fácil. Onze de setembro de 2001. Dois aviões se chocam contra o World Trade Center, no coração de Nova York. 2 749 pessoas morrem. Para a maior parte dos americanos, o fundamental é descobrir os responsáveis pelo atentado terrorista. Mas, para os parentes daqueles que estavam nos prédios, o mais urgente é outra coisa: identificar seus filhos, pais, maridos e esposas.
Apenas 291 corpos foram encontrados intactos. Os outros se transformaram em mais de 19 mil partes, um terço delas tão pequenas que saíam de lá em tubos de ensaio. O colapso dos edifícios e o fogo que atingiu temperaturas superiores a 1 000 °C no primeiro dia de incêndio destruíram boa parte do material genético das vítimas. Nove meses depois, menos da metade delas havia sido identificada. Sem poder contar com a análise de impressões digitais, arcadas dentárias e outros métodos tradicionais, o Escritório de Exames Médicos da Cidade de Nova York criou uma junta de especialistas para orientar os testes de DNA. Para o governo dos EUA, consolar os familiares das vítimas do 11 de Setembro tornou-se uma questão de honra nacional, na qual todo esforço tecnológico deveria ser empregado.
Estava para começar o maior – e provavelmente mais difícil – trabalho de perícia criminal da história da humanidade. “Nenhum de nós sabia quanto tempo a investigação poderia durar”, diz o geneticista do Instituto Nacional de Pesquisas do Genoma Humano Leslie Biesecker, um dos especialistas envolvidos no processo. Em 7 anos, a força-tarefa que uniu biólogos, químicos, médicos legistas, engenheiros, matemáticos e programadores conseguiu resultados inéditos, que hoje começam a ser empregados ao redor do planeta.
Os esforços de identificação das vítimas do WTC são uma prova de que, hoje, desvendar crimes só é possível com equipes multidisciplinares. Além de aperfeiçoar a clássica coleta de evidências, elas trabalham no desenvolvimento de sofisticadas técnicas de testes de DNA e softwares especializados que formam uma estrutura de fazer inveja a Sherlock Holmes. Esse arsenal high tech tem deixado a vida dos bandidos complicada: está cada vez mais duro cometer um crime perfeito.
Testes de DNA
Simon Moran, 38 anos, costumava ser um bom assaltante. Ele tinha uma experiência profissional adequada, como ex-funcionário de uma empresa de instalação de portas e janelas, sempre usava luvas e só arrombava casas de velhinhos. A combinação de competência e cuidado fez que ele só fosse preso uma vez, apesar de ter cometido mais de 100 assaltos. Sua experiência era tão grande que, em setembro de 2006, ele seguiu em frente com um roubo mesmo dando de cara com uma senhora de 83 anos ao arrombar uma casa nos arredores de Manchester, na Inglaterra. O susto só veio dias mais tarde, ao saber que uma gota de suor havia sido suficiente para revelar sua identidade: depois de secar a testa com a luva, ele mexeu num saco plástico onde a octogenária costumava guardar sua bolsa.
Há menos de 5 anos, a polícia precisaria de até 500 células de um criminoso para conseguir uma amostra de DNA decente. Com as técnicas mais modernas, apenas algumas bastam. O material colhido no saco plástico passou pelo sistema de isolamento e amplificação conhecido como DNA LCN, sigla em inglês para “baixo número de cópias de DNA”. Ela foi criada pelos pesquisadores do Serviço de Ciência Forense do Reino Unido para viabilizar testes com amostras que antes não forneceriam volume suficiente de material genético. A técnica é tão sensível que, depois de uma fase inicial de automatização e barateamento do processo, ela tem sido usada para solucionar casos com amostras antes desprezadas, como aquela gota de suor ou, ainda, restos de tecidos epiteliais encontrados em objetos em que o criminoso tenha apenas encostado, como bitucas de cigarro, palitos de fósforo, roupas e armas.
Mas ela sozinha não seria capaz de identificar os corpos do WTC – pedaços de matéria orgânica muito maiores que uma gota de suor, mas com sua carga genética praticamente destruída pelo fogo. Nosso DNA é uma seqüência de 3 bilhões de pares de letrinhas de comprimento, extremamente sensíveis ao calor. Na fornalha que durou 99 dias e chegou a temperaturas mais altas que a de um crematório, a maior parte das amostras de DNA se transformou em retalhos com menos de 400 letrinhas, até então, o mínimo necessário para encontrar mutações que tornam o DNA de cada pessoa único.
Esse problema começou a ser resolvido com o desenvolvimento dos polimorfismos de nucleotídeo simples (SNP), capazes de identificar mutações do tamanho de uma única letra. Com ela, 40 pedaços de 60 a 80 pares de letrinhas cada já seriam suficientes para os testes de reconhecimento.
Mas ainda havia outras questões: “Tínhamos mais de 10 mil amostras de tecido para ser testadas e cerca de 3 mil pessoas desaparecidas. Seriam necessárias mais de 30 milhões de comparações. E, quanto mais comparações, maior a chance de uma coincidência fornecer um falso positivo”, diz Leslie Biesecker. Para ter certeza dos resultados, eles precisariam usar mais de uma técnica. Por isso, investiram no desenvolvimento de identificações por DNA contido nas mitocôndrias – organelas responsáveis pela respiração celular –, muito mais abundante que o do núcleo.
A leitura de cada teste também foi agilizada com a criação de métodos sofisticados de automação, entre elas o microarrays. Os químicos colocam uma amostra em uma placa cheia de pequenos poços com marcadores que funcionam como iscas para trechos específicos de DNA. Um software entende o resultado dessa mistura como uma série de luzinhas acesas e apagadas, que indica o perfil genético da pessoa em questão. Com o processo digitalizado, robôs passaram a executá-lo, num ritmo de 500 testes por dia – rendimento impensável nos anos 90.
Coloque a ciência contra o crime em prática e resolva este crime (clique aqui ou na imagem para jogar)
Apesar de todos os avanços, ainda havia uma limitação a ser superada: a contaminação das amostras. Suponhamos que o assaltante do começo da história não tivesse deixado uma gota de suor no saco plástico, mas encostado as mãos numa maçaneta. Seu DNA estaria ali, mas misturado ao de todas as outras pessoas que encostaram na porta: se o material genético do bandido representar menos de 10% da amostra, é impossível identificá-lo. Ou era. Em agosto, a revista PLos Genetics publicou uma técnica criada pela empresa TGen capaz de individualizar amostras de DNA que representem menos de 0,1% do total da “sujeira” coletada. É o avanço do que já parecia o limite: em vez de testar 40 regiões de SNPs, como é o padrão, ela usa os microarrays (e muita estatística) para analisar centenas de regiões ao mesmo tempo.
Para ficar perfeito, falta ser possível fazer os testes de DNA em tempo real, na própria cena do crime, substituindo grandes equipamentos por maletinhas portáteis. Cientistas de Hong Kong e dos EUA já estão cuidando disso. O trabalho dos americanos, publicado no Jornal Internacional de Nanotecnologia, mostra que, teoricamente, um nanotransistor pode ser ligado a um sensor de DNA para completar a tarefa. Já a equipe de Hong Kong conseguiu fazer a multiplicação do material genético necessária para o teste numa escala portátil, usando um microchip e um sensor eletroquímico. Ao que tudo indica, em breve os peritos poderão colher uma amostra biológica na cena do crime, inseri-la num dispositivo de bolso e receber em minutos o nome e uma foto do suspeito. Até o pessoal do CSI vai ficar com inveja.
Perícia de campo
A gotícula que incriminou Simon só pôde ser encontrada porque os peritos mandaram o saco para ser analisado em laboratório. Mas há cada vez menos pistas invisíveis em uma cena de crime.
Os novos Sherlock Holmes trocaram as lupas por luzes forenses. São lanternas portáteis ou lâmpadas de maior porte que emitem luzes de diferentes comprimentos de onda, ajudando a revelar coisas que normalmente passariam despercebidas. As fibras sintéticas ficam fluorescentes na maioria dos comprimentos de onda, especialmente nos 300 nanômetros da luz ultravioleta. Já materiais orgânicos, como fibras de algodão, saliva, urina, sêmen e ossos, ficam opacos e esbranquiçados sob a luz negra. “Investigando um caso de estupro, analisei o banco de um carro que não tinha sinais evidentes. Com a luz, pude ver e coletar uma amostra de sêmen e identificar o material genético que incriminou um suspeito”, diz Rosângela Monteiro, da Polícia Científica de São Paulo.
Mas isso não é nada perto do que já é possível fazer com impressões digitais. Sim, porque a coleta dessas provas essenciais não é tão simples quanto parece. A maioria delas não é visível a olho nu e, dependendo do suporte, era impossível identificá-las.
Superfícies molhadas, por exemplo, sempre foram uma barreira para os peritos. Problema resolvido com o desenvolvimento de nanopartículas de óxidos de zinco, usadas em um pó que reage com a gordura deixada pelas digitais mesmo na presença de água. Depois, é só iluminar a região desejada com luz ultravioleta e a digital, brilhante, está pronta para ser registrada numa foto.
O próximo desafio é tirar impressões digitais de pele humana, tarefa que está sendo pesquisada por cientistas do Oak Ridge National Laboratory, nos EUA. Eles desenvolveram um equipamento portátil que realiza uma técnica conhecida por espectroscopia de superfície aumentada. O método já mostrou que funciona, mas o instrumento é feito com nanofios revestidos de prata que ainda não dão resultados muito nítidos. O grupo trabalha para melhorar esse revestimento e chegar a uma impressão digital mais evidente, que possa ser revelada com uma fotografia na própria cena do crime.
Mas é melhor apressarem os estudos. Se demorarem , os cientistas do Oak Ridge ficarão ultrapassados antes mesmo de concluírem sua obra-prima. É que, segundo a revista Science, impressões digitais em superfícies molhadas e em pele humana estão prestes a ser reveladas por um único equipamento, que vaporiza uma mistura de moléculas de metanol e água carregadas eletricamente sobre a área investigada. Em contato com a mistura, cada superfície emite íons específicos. Captados por um aparelho, esses sinais são transformados em unidades de imagem, como se fossem pixels. O resultado é uma versão digital da marca dos dedos, produzida em poucos segundos. E o mais incrível é que o aparelho também distingue substâncias em que o autor da marca tocou antes, como drogas, pólvora, metais e substâncias químicas em geral. O kit básico de trabalho de campo de um perito criminal ainda vai ganhar mais um forte aliado nos próximos anos, com a chegada ao mercado de um gravador portátil de imagens em 3 dimensões, apresentado em abril de 2008 por cientistas do centro de pesquisas alemão Fraunhofer IOF. Com eles, os peritos não precisam mais esperar o gesso secar para conseguir um molde de uma pegada ou marca de pneu. Basta tirar uma foto com o equipamento e a imagem em 3D pode ser passada para um computador para comparações. O gravador também pode ser útil para filmar cenas de crime em locais públicos, onde não se tem chance de preservar a cena por muito tempo: bastará reconstruir o ambiente virtualmente e estudá-lo com mais calma no laboratório.
Reconstrução de imagens
Arquivos de imagem, por sinal, são pistas corriqueiras, e preciosas, nas mãos dos peritos modernos. Uma simples cena captada pela câmera no elevador do seu prédio já é bem útil na identificação de um suspeito. É verdade que nem sempre elas são nítidas o suficiente. Mas podem ficar. O software Dtective é capaz de ampliar, destacar e aumentar a nitidez de uma imagem digital, além de reduzir ruídos e eliminar borrões causados pela vibração da câmera. Dá para ver detalhes de um rosto ou identificar uma placa de carro. Foi estudando as imagens do circuito interno do aeroporto de Portland, nos EUA, que o FBI identificou os dois seqüestradores do vôo American Airlines 11, que caminhavam pelo local horas antes de jogarem o primeiro avião contra as Torres Gêmeas. Primeiro, seus retratos foram produzidos em alta resolução com um programa chamado VideoFocus, capaz de combinar várias imagens em baixa resolução. Depois, usaram o retrato como referência para buscar os seqüestradores em milhares de horas de vídeo colhidas nos caixas eletrônicos da Flórida. Sabendo quando e onde eles faziam cada saque, foi possível rastrear a origem e o total de dinheiro que financiou as ações terroristas.
Desenhar fisionomias a partir de imagens e relatos de terceiros é fichinha perto do que fazem os antropologistas forenses, especialistas em reconstituir o rosto de uma pessoa a partir de sua ossada. A especialidade não é nova: há anos esses profissionais trabalham aliados a escultores na identificação de corpos queimados ou em estágio avançado de decomposição. Mas o que antes levava meses e custava pelo menos US$ 2 mil poderá em breve ser feito em poucos minutos e por um preço desprezível graças ao programa ReFace, criado em parceria entre o FBI e a General Electrics. “Primeiro, o crânio é submetido a uma tomografia computadorizada – que funciona como um escâner em 3 dimensões. Depois, modelos matemáticos são usados para reformar o rosto do indivíduo, a partir de informações fornecidas por um banco de dados de cabeças que servem como referências sobre as relações entre osso e tecido mole”, explica o antropologista forense do FBI Kevin Miller, um dos envolvidos na criação do software. Associados a programas capazes de prever o processo de envelhecimento, o ReFace pode ajudar o FBI a descobrir a identidade de cerca de 40 mil corpos que nunca foram identificados nos EUA, inclusive milhares de vítimas do furacão Katrina, em Nova Orleans.
O projeto para o futuro é bem mais ousado: construir retratos falados a partir de amostras de DNA. Hoje, com a análise do material genético de uma pessoa é possível extrair dados sobre sua origem geográfica e etnia. Se ela não for muito miscigenada, já dá para dizer se é afro-americana, asiática ou caucasiana. Com a descoberta de genes responsáveis por características físicas mais específicas, seria possível fazer descrições mais exatas. Já se conhece, por exemplo, o gene associado ao cabelo ruivo. Ao analisá-lo, um geneticista pode dizer se o dono de um DNA é ruivo ou não com até 90% de certeza. Pesquisas semelhantes também já foram feitas para determinar a cor dos olhos em ratos. A grande pedra no caminho desse tipo de software é que a maioria das características físicas é determinada por vários genes ao mesmo tempo, que estabelecem entre si relações de dominância. Pode ser que leve bastante tempo para isso acontecer, mas não é impossível. Afinal, há 15 anos, quem diria ser possível achar um criminoso com uma mísera gota de suor?
Banco de dados
Nada disso seria possível se, por trás de cada pista colhida, não existissem bancos de dados gigantescos guardados em computadores capazes de cruzar e interpretar milhares de informações. De que serve uma ossada se não há modelos de cabeça e rostos com os quais ela possa ser comparada? Ou impressões digitais coletadas de dentro d’água e análises detalhadas de DNA feitas em tempo real se não houver algo que associe essas informações a um nome e a um endereço? No atentado de 11/9, os parentes forneceram amostras suas ou de fios de cabelo e escovas de dentes das vítimas para comparação. Mas, na investigação de crimes, raramente se tem um suspeito para pedir uma cuspida no tubo de ensaio. Quando, em 1986, a polícia inglesa decidiu usar pela primeira vez uma amostra de DNA encontrada na cena do crime para desvendar um assassinato, teve de empreender a maior caçada genética da história: foram 8 meses para colher e testar os genes de 5 mil homens da pequena Leicestershire – praticamente toda a população masculina da cidade. A prova genética mostrou-se eficaz e a criação de uma base de dados de DNA, imprescindível.
Dez anos depois da empreitada, o Reino Unido criou a sua, e foi seguido por países como EUA, França, Noruega, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia e Suécia. Os arquivos são feitos a partir de amostras coletadas durante a perícia de campo e de pessoas que obedeçam a critérios determinados em cada país. Na Noruega, por exemplo, apenas condenados a crimes violentos são obrigados a fornecer sua carga genética. Já Portugal tem planos de fazer uma base que inclua absolutamente toda a população, para criar um verdadeiro Registro Geral de DNA. Nos EUA, o catálogo informatizado de perfis genéticos ajudou a resolver 72 mil casos só nos primeiros 6 meses de 2008. Em algumas situações, o catálogo de genes tem potencial para, até mesmo, prevenir crimes, especialmente os cometidos por criminosos seriais, como Andre Crawford.
Entre 1993 e 1999, Crawford foi detido uma vez por roubo, outra por tentativa de estupro e duas por porte de drogas. Mas em nenhuma das 4 tinha fornecido seu DNA, já que no estado de Chicago, EUA, esses crimes não obrigavam o fornecimento da amostra. Só quando foi acusado de assassinato, seu perfil foi incluído na base de dados. Imediatamente, o CODIS, software que compara os resultados, o associou a 11 assassinatos e um estupro. Já se sabia que todos os crimes haviam sido cometidos por uma única pessoa, mas faltava saber o nome. Se Crawford tivesse dado uma amostra quando foi preso por roubo, em 1993, sua identidade teria sido descoberta logo no primeiro assassinato, impedindo-o de cometer os outros 10.
A mesma lógica vale para as impressões digitais, cada vez mais distantes daquelas marcas de tinta preta borradas sobre uma folha em branco. Desde 1999, os 2 100 arquivos em papel do FBI foram substituídos pelo Sistema Integrado e Automatizado de Identificação de Impressões Digitais, conhecido por Iafis. Um resultado que demorava semanas para sair passou a ser dado em 15 minutos. O sucesso de tecnologias de processamento de dados como a do Iafis no combate ao crime tem estimulado o surgimento de sistemas com as mais variadas finalidades.
Em 2003, por exemplo, o FBI lançou a primeira versão do que é provavelmente o maior arquivo de pedofilia do mundo, com 100 mil imagens. “O sistema ajudará autoridades do mundo inteiro a identificar e resgatar crianças. Seu objetivo também é facilitar processos contra pessoas acusadas de possuir ou distribuir essas fotos”, diz um relatório secreto do Departamento de Segurança Doméstica americano, apresentado pelo jornalista Russ Kick no livro 50 Coisas Que Não Se Supõe Que Você Saiba.
Mas nem tudo é perfeito. O desenvolvimento da informática também foi responsável pela criação de uma nova cena de crime: a virtual. Entre 2001 e 2007, o prejuízo com roubos online denunciados ao FBI subiu de US$ 17 milhões para US$ 239 milhões.
Na Inglaterra, essa prática vem sendo terceirizada: hackers roubam os dados bancários de milhares de pessoas e os revendem em fóruns na internet por um valor ridículo: apenas 1 libra (cerca de R$ 4) por pessoa. E a pior notícia vem agora: a perícia capaz de desvendar esse tipo de crime ainda está para ser inventada. Além da dificuldade de acesso à cena do crime virtual, os peritos têm de lidar com a sofisticação dos bandidos, que, nesses casos, costumam estar pelo menos um passo à frente dos mocinhos. Ao mesmo tempo em que o histórico digital de palmtops, celulares e pendrives é capaz de traçar um rico perfil do suspeito, as evidências são muito voláteis: podem existir em vários lugares ao mesmo tempo, ter um ciclo de vida curto, ser facilmente perdidas ou apagadas. “E nunca podemos ver nada sem o uso de muita tecnologia”, diz Marc Rogers, especialista em computação forense da Universidade Tecnológica de Purdue, nos EUA.
Se o desenvolvimento de softwares de arquivo e rastreamento de dados é cada vez mais crucial na construçã o e solução das cenas clássicas de crimes, no novo mundo dos delitos virtuais o investimento no trabalho dos especialistas em informática é a mais promissora – e talvez única – saída. Os peritos do futuro são os cientistas da computação. Sem esses novos heróis, a ciência forense vai ficar parada no tempo. E nem os casos mais simples serão elucidados.
As mentiras de CSI
Falta abrir uma franquia de CSI em Hollywood, porque na TV os crime scene investigators vão um pouco além da realidade da profissão. Confira 5 furos comuns da série:
1. Tira a mão, grissom!
Volta e meia o agente Gil Grissom toca provas na cena do crime sem luvas ou com objetos pessoais, como um lápis. Erro básico que pode contaminar a amostra.
2. Levanta e corta
Um perito jamais entrevista suspeitos e testemunhas. O contato dele e de técnicos de laboratório com suspeitos pode influenciar subjetivamente o resultado dos laudos.
3. Reality show
“Na TV eles trabalham só em um caso por vez”, diz Rosângela Monteiro, da Polícia Científica de São Paulo. “Em um plantão de 12 horas, aqui em São Paulo, um perito chega a atender a 12 ocorrências”, diz.
4. A justiça tarda
A cena do crime pode ser periciada tão logo o delegado responsável pelo caso solicite. Mas buscas na casa de suspeitos dependem de mandado judicial, em qualquer lugar do mundo. E você já viu uma equipe do CSI esperando mandado?
5. A ciência também
A agilidade com que o resultado dos testes acontece é sempre um exagero. Tudo fica pronto no mesmo dia. Na real, alguns procedimentos podem levar dias. Mas aí é a ciência que está tratando de imitar a ficção.
Para saber mais
Federal Bureau of Investigation
www.fbi.gov/hq/lab/labhome.htm
The Forensic Science Service